vínculos da
mente
Se partilhas um pensamento, ele pode assustar ou talvez apaziguar, dependendo de como parecerá inofensivo ou alarmante, dócil ou perigoso, razoável, patológico. Mas se não partilhas um pensamento, ele não tem categoria — é secreto, inédito: como todas as coisas que atuam discretamente no mundo e o transformam sem chegar a fazer-se texto.
1-+--
pelos de gato
dedos
no elétrico
um saco de amendoins
conversas com médico (1/4)
manípulo
patologia de um beijo (1/2)
carta
-+-2-
interesse
matéria prima
gestão de um recurso
" tony "
metacarpo
tourette
conversas com médico (2/4)
troco
provocação
-3+-
transgressão
quero contar-te uma coisa
manifesto da anatomia
categorias do destino
conversas com médico (3/4)
verniz
tempo, contratempo
tarde
4-+--
aroma
impressão cutânea
olhos azuis
sucesso e trauma
corte de cabelo
cantilena
nota de suicídio
logística do sentimento
bengala
-+5-
comunicação
no comboio
a mão e a caneca
prima privacidade
conversas com médico (4/4)
sustentabilidade
dois pombos
cinema mudo
-6+-
terça feira (obs.-compulsivo)
crepúsculo de um cão
um sonho
confidências
proto-ulysses
morada
nota de rodapé
-7--
coleção
olá, adeus
recorte
parapeito
gramática
perimetria
cálculo horário
prateleira
-+-8
confissão ficcional
vitrine
Equus - 3º Acto
corrida
velocidades da articulação
obediência
mensagem do caranguejo
...
info
pelos de gato
Repara neste pormenor: a sépia na pele não passa a ser pele. Está lá, à superfície, mas não lhe pertence. Só os olhos se deixam enganar se fazes traços na cara e aquilo parece bigodes de gato. Dupla ilusão, no fundo: a de que são bigodes de gato, como nos gatos — e de que, como nos gatos, não estão meramente colados à pele.
E algo mais se poderia dizer sobre este e outros problemas de detalhe — por exemplo, a quantidade exata de pelos que um gato tem no bigode, isto se acaso uma criança soubesse, se lho perguntassem. A mãe não o sabe nem perguntou; fez três em cada lado, decidiu, e os olhos viram e pensaram: gato. Verdade seja dita, quando ela disse que eles seriam gatos no carnaval, é certo que não lhe estava a prometer realismo – nem sequer realidade. Aliás, seria impossível que ao primeiro risco ficasse uns bigodes exatos: isso seria prodígio, e ela nem sequer é artista. O que talvez seja uma certa negligência por parte de quem não é capaz: dizer que é. E a sua qualidade de observar é provavelmente tão má quanto a de desenhar, pelo que ela olhou e pronto, ficou satisfeita.
Ou talvez tenha havido aqui um mal-entendido. Certamente foi isso: ela já no início tinha planeado uma ilusão simples, nada mais. Ele é que acreditou na busca do exato: um de muitos bigodes verosímeis que poderiam ter sido: mais impressionantes, acima, abaixo, maiores, finos, ásperos, esbeltos, pobres, comuns, fugidios, muitos, poucos. «Desculpem» disse ele para todos esses gatos do outro lado do espelho, «afinal não procurávamos por vocês».
É compreensível que a mãe tivesse pressa. Aliás, mesmo que não tivesse, o rapaz já esperava por isto. De certo modo, a cada momento não podemos experimentar todas as hipóteses, nem sequer muitas. A desejada perfeição estaria numa tentativa mais além, mais rebuscada: mas a que escolhemos é mais primeira, precoce, imediata. Não por ser exatamente aquela que buscávamos, mas por ser a que se possibilitou. A mãe poderia de facto ter feito mil experiências na sua pele até encontrar os traços que lhe lembrariam mais claramente as feições de um gato. Mas a ilusão genérica, bastante tosca e simplificada, foi o que lhe bastou. No fundo não sabemos sequer o que é isso de perfeição. Não podemos ter na mente a casa perfeita, a pessoa perfeita ou o poema perfeito: cada um esboça-se à medida que se faz, percalço a percalço, sem definição antes do processo.
Talvez até se possa dizer que nem sequer conhecemos as coisas — as coisas que existem à nossa volta — nem o que elas são deveras, enquanto coabitam connosco todos os dias. Apenas somos hábeis para a distração logística que nos faz usá-las quando elas estão a jeito em tempo útil. Seria preciso parar para escutá-las para saber o que elas querem dizer, para as conhecer de facto. Mas a felicidade tem o seu calendário próprio, aquele prazo em que seria bom poder usar uma coisa quando é tempo de ócio, pelo que convém essa coisa já estar pronta. Algo como as brincadeiras de criança quando os preparativos bastam e a imaginação faz o resto.
A ver bem, há uma certa banalidade no amor, no apreciar as coisas como elas são: porque nos foram dadas do pé para a mão, porque não conseguiríamos nós mesmos produzir uma coisa semelhante e não temos noção de variante mais perfeita que poderia haver em vez de aquilo, naquele exato momento. Uma rua, um poente, um som, uma pessoa: amar algo é vê-lo formidável, como se no êxito da sua categoria, pelo menos face à possibilidade de poder ter sido nada ou nada a ver. Porque de resto não haveria capacidade ou sequer necessidade de naquele instante encontrar melhor. É necessária a aceitação de uma certa mediocridade, de algo mais satisfatório do que o nada e menos demorado do que o impossível, para que as coisas possam fruir-se. Caso contrário, não poderia haver agora.
O que talvez seja bom. Na falta de génio do dia a dia, algo deste banal será talvez desejável, ou até mesmo logisticamente imprescindível. Como por exemplo: um menino que se mascara com a mãe para ir ao baile: porque de facto ele não quer perder mil horas a fazer riscos; e a festa é daqui a pouco e já são horas, mais ou menos. Aliás, talvez aqueles riscos até cheguem para dar ao amigos a impressão de um "gato!" — da primeira vez, o resto é brincadeira.
E para todos os efeitos, talvez os seus amigos até gostem de quaisquer riscos que ele tenha, seja muitos ou poucos, simplesmente por ser ele que os traz — talvez, até, por eles não o terem planeado, por verem ali uns riscos que para eles são já inesperados como os de qualquer gato. Quem sabe, no fundo, se a perfeição não é um fenómeno que acontece a posteriori: quando se ama uma coisa por ir descobrindo o que ela é, em todos os seus pormenores, de modo que no fim ela já não poderia ser outra qualquer. De modo que já nada mais a poderia substituir. Ou até: de modo que ela não poderia se não chocar-nos por não ser exatamente aquilo que pensamos dela quando a amamos.
Faz isto sentido? Não sei o que pensar, pensa ele em frente ao espelho. Estou a ficar obcecado outra vez? Não importa, fica para depois...
E hoje, eu sou um gato.
dedos
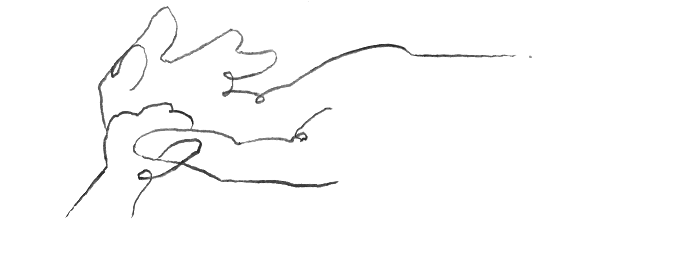
A bebé dorme, ou quase. Segura a mão do adulto,
agarra, larga, toca, repousa.
Segura aquele dedo maior do que o dela.
É forte, e pesado, e doce, e deixa-se estar.
Dá para agarrar, pensa a bebé. É grande. E eu consigo,
consigo agarrar aquele dedo enorme com a minha mão.
E o dedo deixa. Não sei se estou a agarrá-lo
do modo certo, pensa ela. Mas ele não mo diz, apenas mexe também.
Aliás, eu mexo-o: ele é empurrado, não faz nada,
não faz nada contra. Não quer dizer que aprove.
Mas não se revolta.
Aprova. Ou espera pelo assunto.
Não há assunto. Só quero mexer.
É razão suficiente?
Pode ser que seja. Os meus dedos não sabem para onde,
aquele dedo grande também parece não saber.
Mas permitimos, é mútuo acidente.
Ou talvez mexer assim, mexer de acidente,
seja a definição do mexer em si.
Porque eu não sei o estado ideal para os meus dedos estarem.
Aquele dedo, pelo que parece, também não.
Há esse estado?
Talvez ele esteja só a fingir,
a mentir que não se importa. Ou eu a não saber usar.
Como se deve usar um dedo?
Não sei calcular isso...
Preciso de saber antes de mexer; mas o dedo mexe antes de eu saber.
De outro modo, como se deve usar os dedos?
Ao que parece, eu tenho estes dedos, e para saber, tenho de os usar…
Não sei mexê-los de outra maneira.
Não consigo.
Até agora, ainda ninguém me explicou.
Talvez porque eu seja bebé. Ainda é cedo.
(para a Eva)
no elétrico
Menina, esta é a estação terminal.
Assim disse o homem, talvez com simpatia: «menina» por ela não saber que é para sair, a viagem chegou ao fim. Na verdade, quando ela entrou ele não lhe perguntou se pagou o bilhete para viajar ou simplesmente para estar no elétrico, como quem está no café, independentemente do que toma. Mas enquanto o elétrico está entretido ninguém quer saber disso; só quando aquilo pára ela tem de se explicar, como se o bilhete afinal não tivesse acontecido. De facto, quando tudo funciona ninguém te pergunta porque fazes isto ou aquilo. Ninguém quer saber se olhas para a tela quando vais ao cinema, ninguém quer saber o porquê de receberes um abraço ou de uma peça de roupa que se tira. Desde que as pessoas façam o que parece fazer-se, ninguém quer saber. Mas de repente o elétrico pára —
é a estação terminal, menina, é para sair.
O homem assim diz mais uma vez, porque lá ao fundo ela talvez não tenha ouvido, e ele entretanto faz o que tem a fazer: arruma papéis, guarda dinheiro, apaga luzes. Mas enquanto ele faz aquilo ela fica; aliás, porque entretanto ele ainda faz aquilo, ela fica, tranquila, serena, continuando o destino que o bilhete comprou, mesmo que ninguém lho tivesse explicitamente para isso vendido; mesmo que para olhos outros aquilo pareça só um sentir-se sozinha, um desejo de ir para lado nenhum, de ter movimento sem mudança — coisas que se faz de vez em quando antes de se decidir parar e sair.
Talvez o homem tivesse dito menina como quem diz: você não é mãe, se o fosse estaria com pressa. Só as meninas não são ocupadas, não são como as mulheres ou este homem, que tem de ir para casa porque tem que fazer, que faz o jantar porque tem de ser e que conduz um elétrico porque tem de ser. Talvez ele nem saiba das coisas de que gosta, quando conduz um elétrico: acha só que toca na campainha quando a função o pede, só calça sapatos porque a função o pede, olha para as ruas porque a função o pede. Se ele soubesse coisas que o fazem feliz, talvez tocasse a campainha de vez em quando só por gozo, por devaneio; talvez perdesse tempo a olhar para os sapatos brilhantes enquanto os passageiros esperam. Em suma, coisas completamente a-funcionais — não têm utilidade, e é por isso que ele não as faz: é o mundo que lhe define os tempos de felicidade e ele não sabe justificar pequenos momentos sem função. E agora são horas e a menina ainda não saiu, ele fala-lhe, mas ela não ouve,
menina,
e ela insiste, não dá de si, não quer saber. Se saísse agora ainda iria tempo de não ser incomodada a sério pelo homem, ou por um seu colega, ou por um qualquer agente da autoridade: ele não iria a correr atrás dela, e a lei sozinha não se mexe, a lei não tem substância, é preciso quem a mova e isso nem sempre compensa. Talvez ela pudesse ainda acalmá-lo, dar-lhe uma justificação que ele compreenda, tenho o pé preso ou adormeci, desculpas de funções outras que as pessoas entendem, aceitam, porque entendem. Mas ela hoje não quer. Ela sabe o que está a fazer — ela sabe, sabe do que gosta, do que é in-útil, do que não é explicável, do que não precisa de explicação para justificar-se. Talvez haja aqui uma transgressão, ou talvez nem exista de todo, porque o homem caminha pesadamente em direção a ela mas ainda só vai a meio; não é que ele tenha acabado o que ia fazer: só quando chegar junto dela terá de tomar uma decisão, só aí terá a sensação de estar a perder tempo;
e todas as coisas são permitidas enquanto ninguém mais perde tempo. Na verdade, é assim que tudo funciona: enquanto ninguém mais perde o seu tempo, não há lei, não há regras, não há bem e mal: só quando um acto começa a incomodar os outros passa a estar em conflito com a demais agenda do universo. Portanto, nem sequer é certo se ela já esgotou o que tinha a fazer ali ou se ainda agora o começa. Se fosse para ele saber, ela tinha-lho dito. Mas é possível que aquilo que ela tivesse planeado ainda esteja a começar — aliás, só quem compra um bilhete para tudo menos cumprir o seu propósito sabe todas as outras coisas que se pode fruir; a lei não é aposta ou adversa a isso: nenhuma agenda pode impedir um evento que desconhece. E quanto mais o homem se aproxima menos ele sabe se vai impedir alguma coisa ou participar num instante para o qual ele foi convidado — sem saber que ações, que sons, que impulsos, que surpresas isso implica. Daí que naquele elétrico passa-se tudo o que pode acontecer num elétrico, e inicia com o ódio perplexo de um homem que se aproxima, que está perto o suficiente para abrir a boca, olhar a menina nos olhos e ver um olhar igual como quem pergunta de volta:
E agora, senhor, o que se segue?
um saco de amendoins
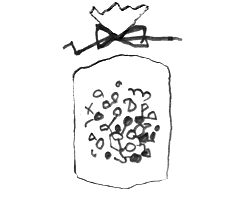
Ele descobriu-os, olhou para eles e disse
— quero, preciso disto —
e pegou no saco, que era um, amendoins muitos.
Não que ele soubesse exatamente quantos amendoins queria: queria um tanto, como quem quer maçã e tira uma qualquer, sem ver falta de polpa medindo com maçã maior. Mas o saco estava fechado: tinha um laço tão decisivo, como quem diz "a conta está feita, isto é 1 —
1 quantidade de amendoins".
Uma quantidade exata: sem falhas, sem cantos, sem folga por onde amendoim clandestino pudesse ter entrado ou saído.
Por isso ele pegou e trouxe o saco.
Não é que ele quisesse o saco; na verdade, o saco estava lá como quem não existe; como quem testemunha uma transação, sem contudo pertencer a ela. No fundo, só se traz os amendoins assim porque não se pode fazer saco com as mãos sem deixar cair muitos, mais do que só alguns. E ele não sabe exatamente quantos quer, mas sabe que serão muitos, o suficiente. O que ele quer é fazer uma tarte, só isso:
por receita ele sabe que terá vários do que haja dentro: gotas, bagos, pós, todos muitos para dar quantia, juntos para fazer mistura, suficientes para fazer tarte.
Se a tarte no fim fica grande ou pequena, bastante ou incompleta, pouco importa. Pouco importa: desde que seja suficiente para um movimento, uma polpa entrar no estômago e ali ficar arredondadamente, confortavelmente, tornando-se parte por não mais se distinguir.
Não há talvez quantidade de coisa nenhuma: o que conta é ingredientes e mistura, e que haja mistura, e que ela seja tal que não se sabe se perdeu bago ou outro. Não há resto nesta equação, nem resto nem desperdício, se tudo o que faz parte da tarte se instala e passa a pertencer. Ainda que o saco, afinal, tenha ido para o lixo — foi para o lixo, como ingrediente que se recusa porque não fazia parte da emoção, apesar de ter sido pago e trazido como quem trouxe uma coisa só em vez de duas.
Talvez o saco seja a parte do numerário: da ideia:
como quem diz ‟amendoins” e dizê-lo é já fazer um saco que os leva a todos de lugar para o outro, sem ter de levá-los um a um. De modo que a mente tem uma lista:
e nela está um tópico:
— amendoins,
e a mente olha para o tópico e para a coisa e diz:
é um, está certo.
Por isso, nessa tarde tudo está perfeito. Há a tarte, o café, o sofá, o caderno. Ele senta-se e está feliz. Tem uma tarte pronta a comer: uma tarte bonita, redonda, completa. Uma chávena de café, cheia até ao limite de sua quantia. Um caderno de folhas para escrever, com mais ou menos páginas, sem que isso lhe cause insuficiência de assunto. O momento está completo com cada uma dessas coisas. Com cada uma.
E atrás, e ao lado, e em volta, tudo o resto completa o cenário: a poltrona, a janela, o candeeiro, o jarro; o armário com frascos e embalagens seladas, café, farinha, grãos, ervas, pétalas, lascas, bagos, pós, talos.
Na verdade, tudo o que ali está naquelas embalagens é natureza igual aos amendoins: texturas densas de uma substância, sem contorno exato, sem número decidido. No fundo, tudo aquilo são ingredientes a granel para finalidades outras, como quem está na fila para ser atendido. A pimenta talvez acabe por ser triturada, para dar uma embalagem de condimento, ou talvez misturada em minérios e líquidos que a façam ser tinta à espera do seu uso. Os botões de rosa talvez acabem por ser essência, fervida, para caber num belo frasco de aroma intenso, e talvez daí venham até a misturar-se com outras essências num perfume que não estava afinal acabado, ou cujo fim será desaparecer num tecido suave ou numa bebida exótica.
Talvez até se possa dizer que a maior parte das caixas de todo o mundo nem guarde coisa nenhuma: as embalagens sucedem-se umas às outras contendo pedaços intermédios nos vários estados do entretanto, embora as vejamos como um objeto final em si enquanto o manuseamos. Mas todos são corrente em prol de um produto longínquo que, esse sim, onde quer que surja, é uno, é raro, era o seu próprio destino. É logístico; ou talvez melhor dizendo, é existencial: não há modo de considerar todos esses estados do intermédio se não inserindo-os numa categoria, de modo que a mente possa guardá-los com a devida importância enquanto tem de arrumar essa categoria nalgum lado. O que, em termos práticos, justifica cada frasco rotulado, cada embalagem debruada a ouro, cada saco atado com a delicadeza de um laço.
Não sei o que ele pensa sobre isto. Não vou incomodá-lo agora.
Ele come: mastiga uma fatia de tarte, de mistura, de farinha, de fermento, de amendoim. Digo ‟ele” — a pessoa, porque assim parece:
vendo-o atentamente, ele é coisas várias de contorno redondo, um ajuntamento selado e bonito que faz olhar e dizer: é 1 pessoa. Mas não sei se lá dentro as partes também têm embalagem, o pâncreas, os pulmões, a clavícula. Não sei se os glóbulos têm por casa a artéria, e se para ela é valioso saber se estão todos ou falta um, para poder haver o suficiente disso entretanto, e o coração embala-os como quem leva nas mãos quando viaja. Ou talvez todas as coisas sejam verídicas embalagens umas das outras: durante o tempo que leve, com a quantia que leve, para não se perder, para poder haver entretanto, sendo elas o que seja, por quanto seja,
sejam ou não o produto final.
conversas com médico (1/4)
Mas é impossível saber isso. Eu não trato do destino. Se assim fosse, teria de aceitar as doenças como inevitáveis... Entenda: o meu trabalho é tratar do que podemos mudar. Do que podemos mudar. Se uma determinada condição lhe causa transtorno e você gostaria de mudá-la, faz sentido mudá-la. Você veio aqui com este enunciado:
uma determinada condição causa-lhe transtorno — os seus pensamentos causam-lhe transtorno, e por isso você gostaria de alterar a sua situação;
se assim é, vale a pena considerar esses pensamentos como um transtorno. Seja qual for o rótulo que lhe coloquemos. No fundo, um rótulo é o que usamos apenas para mais facilmente falar dessa coisa, do mesmo modo que falamos de "ventania" ou de "Manel". Eu nunca o forçarei a considerar patológico qualquer pensamento seu. Só você me poderá indicar aquilo que o magoa, e decidir o que fazer em relação a isso. E apesar de tudo, e apesar do seu esforço em ter vindo até aqui,
agora você parece indeciso... Parece que já não tem a certeza de se vale a pena estar aqui ou não. Da minha parte, digo-lhe — talvez sim, talvez valha a pena. Ora oiça:
se um pensamento é doloroso, então das duas uma:
1— ele é útil, porque verdadeiro, mesmo que doloroso,
2— ou inútil, porque além de doloroso ainda por cima é falso;
e embora eu entenda o medo que nos possam causar pensamentos verdadeiros que são dolorosos, não vejo utilidade de querer preservar pensamentos dolorosos que sejam, ainda por cima, falsos. O senhor veio aqui porque sofre de pensamentos falsos,
viciados,
perturbadores,
que o torturam: ideias mórbidas de suicídio, de trauma, de castigo, que até agora apenas lhe trouxeram sofrimento. Que dúvida lhe resta? O que pensa você sobre isto? Partilhe comigo, por favor. Estou a ouvi-lo.
O que eu penso? Desculpe... Há muito que deixei de saber o que penso. De facto eu vim ter consigo porque sou assolado por impulsos que não controlo e que me deixam incapacitado. Estou no desespero; os meus pensamentos agem contra mim próprio a tal ponto que metade do meu dia se ocupa a lutar com eles, usando a parte do meu pensamento que está sob o meu controlo. Mas tudo isto é tão cansativo que por vezes nem chego a conseguir levantar um copo. Estou aqui para que você me ajude. E ainda assim, tenho tanto medo... O que estou eu a fazer? Quero que você me ajude a libertar-me destes pensamentos? Oiça, é decerto natural que eu tenha medo: trata-se da minha cabeça, é a coisa mais frágil que tenho. Entende? Trata-se dos meus pensamentos. São parte da
minha mente, da
minha essência. Haverá algo de verdadeiramente perigoso nisto tudo de que não esteja a aperceber-me? O que estarei a fazer a mim próprio se procurar tentar eliminar pensamentos da minha cabeça? Até mesmo os pensamentos mais absurdos têm sabedoria. Eu não quero descartar a utilidade que eles têm: por vezes protegem-me da fraude, da ilusão, do equívoco; por vezes fazem-me simplesmente pensar, devanear... Por mais que eu repudie certos extremos da imaginação, eles poderão ter sempre algo para dizer, porque são as hipóteses não ponderadas, não experimentadas, são balanços da alternativa...
Entendo a sua hesitação. Mas oiça: quantas alternativa dispensamos nós a cada momento quando decidimos fazer aquilo que nos interessa? É certo que podemos muitas vezes procurar alternativas, mas isso não é necessariamente pelo amor à ideia de alternativa por si. O que procuramos, talvez, é a primeira nova coisa que satisfaça o que a anterior não satisfez. Ninguém que é feliz procura alternativas. Você conseguiria imaginar estar perante o momento mais feliz da sua vida e de repente parar para pensar "estou feliz, sinto-me pleno; não será melhor estar a fazer outra coisa?" O valor da alternativa é aquilo que aprendemos a reconhecer com a maturidade da desilusão: mais cedo ou mais tarde temos por experiência que vale a pena ponderar alternativas ao nosso pensamento já tão inerte nos seus hábitos e estereótipos. De facto,
a nossa época é bastante permeável ao conceito de alternativa, talvez por ser uma época que já se desiludiu com as crenças religiosas dos séculos anteriores e com os raciocínios ideológicos do passado recente. Mas em todo o caso, o conceito de alternativa continua a ser um conceito ambíguo. A felicidade e a satisfação, coisas essenciais para se viver, dispensam uma total e infinita ponderação de alternativas. Até mesmo as sociedades mais dinâmicas e criativas estabilizam quando encontram os processos criativos com os quais estão satisfeitas. É isso que lhes define o estilo; de certo modo, é isso que as tornará facilmente identificáveis e catalogáveis aos olhos de culturas outras ou gerações futuras: porque alternativas haveria, muitas, e tão diferentes... Mas ninguém se lembraria de tudo, nem poderia desejar tudo. Até nem mesmo
os jovens são alternativos, embora a adolescência nos pareça tão fértil a destruir o sistema. Os jovens procuram, simplesmente, a primeira coisa que os excita mais do que aquilo que outra não fez, e isso não é alternativo, é na verdade bastante imediato.
Entendo o que quer dizer. Talvez não o façamos por genialidade, mas por necessidade. Certo é que o mundo é prolífico em oferecer-nos frustrações… Nesse sentido, o indivíduo não é mais nem menos patológico do que o mundo, ou é? Talvez fosse melhor medicarmos primeiro o mundo e só depois o indivíduo...
Ah! Isso foge ao meu âmbito. Curar o mundo seria uma quimera. Eu contento-me em fazer o que me é humanamente possível: ajudar indivíduo a indivíduo. É por isso que você está aqui e é por isso que estamos a ter esta conversa. Tomemos como exemplo a sua história:
você disse-me que é invadido por impulsos de suicídio que não deseja, desejos de sofrer azares contra sua vontade. Este é o enunciado; e nele, se me permite, parece-me haver uma pequena contradição, aquilo que indica haver de facto um diagnóstico possível. Porque seguir desejos, quaisquer que sejam, é razoável; e fantasiar sobre eles é já de si uma viagem, vai e volta, tem trajetos. Mas procurar os azares, isso sim, parece-me um paradoxo, até porque o mundo já de si tende naturalmente para o azar. É isso que o senhor deseja verdadeiramente? Deseja que a sua vida resvale para o azar? Não acha que isto é um paradoxo? Se você deseja estar vivo, qual a utilidade de dar rédea a pensamentos que o fazem entrar em auto-bloqueio? Afinal, quais são os seus desejos? Os seus desejos verdadeiros? Aqueles que, por um longo tempo, o fariam não pensar em alternativas? Se eles forem possíveis, consideremo-los a sua saúde médica; por oposição, esses falsos desejos que tem são o problema que o fez vir aqui. Sei que não é um processo fácil nem suave. Decerto,
toda a decisão é violenta... E por mais que eu gostasse de assegurar-lho, a medicina não é uma ferramenta absoluta da verdade, embora talvez preferíssemos que assim fosse. Depois de tantos anos a trabalhar como médico, não sei se posso dizer-lhe mais do que isto:
a medicina é uma ferramenta do desejo,
tal como outras disciplinas humanas o são. A gastronomia trata dos nossos prazeres a nível do alimento; a engenharia produz soluções úteis a nível das estruturas. Medicina é a realização das nossas preferências em assuntos do organismo. Seria mais reconfortante eu dizer-lhe "tratemos da cura, porque o seu problema é obviamente uma doença". Mas o conceito de doença não é uma verdade absoluta, nem sequer uma verdade relativa. De um ponto de vista genético, emocional, ontológico, continuaremos eternamente sem saber quais os propósitos do universo, qual o critério da perfeição fisiológica das formas. A única coisa que sabemos é que, enquanto estamos vivos, queremos certas coisas. Até mesmo uma bactéria ponderaria eternamente durante todo o seu ciclo de vida, se investigasse a implicação filosófica das suas escolhas. Uma escolha humana não é melhor nem pior:
queremos sobreviver: para isso, temos de tomar a bactéria como doença se por algum motivo ela nos prejudica. De certo modo, talvez você gostasse que eu lhe dissesse: «vale a pena fazer isto, porque está certo». Mas eu não posso. Terá de ser você a tomar uma decisão, terá de ser o senhor a realizar o seu desejo de pedir-me ajuda. A mim, a um amigo, a um padre, a um xamã, um detetive, um progenitor, um poeta, um explorador, um espírita, um exegeta... Eu sou médico, estas são as minhas ferramentas.
É só isso que tem para me dizer? Este é o meu negócio, estes são os meus serviços? Isso assegura-me muito pouco... Eu não o conheço sequer pessoalmente, nunca lhe confiaria a minha herança ou o segredo das minhas contas bancárias. E ninguém lhe revelaria os seus segredos políticos ou as suas gavetas mais bem fechadas. Mas ainda assim você espera que eu lhe entregue de mão beijada a minha mente.
A sua mente? Você não vai entregar-me a sua mente, isso não se passa assim. Dizê-lo de tal forma é de facto assustador. Até, quem sabe, tentador — porque muita gente gostaria talvez de ter essa autoridade, e muita gente a teve. A História dá-nos muitos exemplos disso. Houve e há pessoas, comunidades ou civilizações inteiras considerados loucas porque não as conseguíamos ou não queríamos (ou não as queremos) compreender. O que de facto torna atrozes as autoridades que a ciência se permite. Se a ciência fosse perfeita, seria uma disciplina isenta de atropelos e influências. Mas não o sendo, precisamos de assumir forçosamente a presença de uma história da medicina: a evolução de confrontos e reivindicações que se foram aplicando ao conhecimento consoante os erros de cada época. Até porque qualquer sociedade que pretenda curar um indivíduo não é totalmente isenta de culpa, se é ela que o condiciona, e impregna nele algumas das suas patologias essenciais. De um modo mais vasto, nenhuma sociedade é por si lúcida ou absurda, saudável ou demente,
todas são, de certo modo, como qualquer indivíduo: razoavelmente loucas mas minimamente estáveis... A ciência não se livra, como qualquer outro campo da investigação, de ser contaminada por ideologias pessoais, apesar da aparente neutralidade da ideia de "medicina". No fundo, trata-se, sempre, de um problema metafísico essencial: aquilo que se quer descobrir, que disciplinas se quer instaurar, e por que razão se quer fazê-lo. As razões podem ser, elas mesmas, tão íntimas e funestas… Só talvez depois de uma grande quantidade de manifestos e séculos de poeira pode a ciência passar a ser limpa de crenças e romantismos. Como um simples catálogo: uma lista de causas e efeitos, e o modo como os efeitos mais seguros, menos arriscados, mais unânimes, se podem atingir. Como uma espécie de economia dos recursos. A ‟saúde” e ‟doença” das coisas continua, por si, a ser uma questão metafísica, fora do campo da ciência. Por isso não é isenta de ideologia toda a palavra que em cada época procura usar-se para circunscrever o "errado" face ao correto:
doença
degeneração
pecado
heresia...
Outras palavras surgirão no futuro com a mesma função que estas. Aliás, não é de todo impossível que eu tenha uma certa tendência em ver nestes seus sintomas indícios de "distúrbio" — perdoe-me neste caso esta palavra, estou apenas a seguir os conceitos da minha época —; mas se assim for, você não precisa de alarmar-se. Estou a usar uma certa dose de honestidade. Não quero atacá-lo de modo nenhum, e aliás eu não fui ter consigo, foi você quem veio ter comigo. Eu nunca o forçarei a nada nem lhe barrarei a saída.
O que você diz alarma-me, embora me apazigue... Deixe-me perguntar-lhe: se nalgum momento da terapia houver uma situação extrema de discórdia entre nós, paciente e médico, como poderei eu defender-me? Poderia eu ter uma opinião quanto ao tratamento a que estarei sujeito, incluindo a nível legal, se perante toda a gente eu serei o indivíduo demente e você o saudável?
Lamento não saber responder à sua pergunta. Estamos a falar de extremos, nunca por eles passei... Mas o que imagino será, talvez, o que cabe a cada pessoa no extremo da possibilidade:
eu talvez tentando ajudá-lo, porque sou médico:
o que no melhor será a sua cura ou, no pior, a minha ditadura;
e você tentando recusar, porque é o objeto,
o que afirmará a sua senilidade ou, em caso de sucesso, a revolução.
Sendo eu uma simples pessoa, devo reconhecer que a minha posição é a de quem por vezes é democrata, por vezes tirano, por vezes sábio, por vezes paciente. Nada mais posso garantir. O que aqui lhe proponho é uma caminhada a dois, não é um processo de incisão sobre um paciente. E se de sua parte ainda sente algum tipo de desconfiança, devo confessar-lhe de modo muito simples: é pouco provável que eu queira aplicar sobre si estratégias ou ideologias cruéis minhas: o sistema que me paga o salário não me dá esse poder, e além disso eu sei como as coisas mudam, de um instante para outro, de uma época para outra, e não gostaria que um dia mo fizessem contra mim.
Ah, não se preocupe... Mesmo que eu quisesse, não saberia fazer algo disto contra si, não sou médico.
Certo. Mas há métodos outros para a coerção. Chantagem, dinheiro, armas... Com muitas outras coisas poderia você sujeitar-me a uma visão redutora do assunto.
Não trouxe nenhum recurso comigo. E apesar de tudo, penso que continuo interessado na terapia...
Apraz-me ouvi-lo. Seja o seu interesse, e sempre ele, a justificar a sua presença aqui.
-> conversas com médico: 2/4
manípulo
Aquele rapaz, ali, pega no garfo como quem
conduz uma bicicleta: com o punho.
Será que não sabe usar um simples garfo?
Nem se apercebe do ridículo que isso é —
saber usar uma bicicleta,
mas não um garfo.
Decerto é-lhe mais fácil comer assim.
O que, de certo modo, tem mais a ver com
liberdade: escolher o que mais flui.
Mas não é difícil usar um garfo.
Meio mundo inteiro usa-o, não é por acaso;
no início talvez até tenha custado a aprender,
como a bicicleta — tudo custa a aprender —
mas o prémio vem depois, quando já se sabe:
quando se faz de modo fácil o difícil,
o que nunca se pensaria possível sem praticá-lo,
como pedalar ou multiplicar ou escrever.
Mas talvez não queiras saber isso, rapaz:
ter de — ter de aprender como se usa um garfo,
seguir o que te mandaram, porque to mandaram,
e aprendido tão bem que já não podes des-aprender.
Verdade seja, isso tem maravilha mas também perigo:
aprender tão bem uma coisa que por toda a vida
se a faz, se a pratica, sem pensar. Sem saber porquê.
Todos à tua volta farão o mesmo, porque já são assim;
e todos quererão dizer-te o que fazer
e no final irão dizer — ‟deu benefício” —
porque, claro, saber esgrima beneficia
aquele que se tornou esgrimista.
Quer o quisesse ou não.
Ser e tornar-se. Ser e tornar-se.
Mas entendes, rapaz. Ninguém quer ver-te vagabundo
do que poderias ter sido. E não poderias
saber o que isso é a não ser sendo-o.
Só assim. Não se sabe o benefício de poder
ter sido outra coisa sem chegar a sê-la.
No fundo, eles também não poderiam.
Não se sabe o benefício de poder ter sido
outra coisa sem chegar a sê-la.
Não sei; talvez ele já esteja para ser o que vai ser.
Pelo menos, parece ter mão de um comer só seu.
Verdade seja, eu também aprecio —
esta a comida está mesmo boa.
Enfim, acho que é melhor
parar de olhar.
patologia de um beijo (1/2)
Mas porque tem pressa
ela veste-se, passa pela escrivaninha e
leva as chaves. Está atrasada,
quer ficar, não quer sair — mas tem de sair,
e por isso sai. Ela, a pessoa, sai.
Não a escrivaninha.
A escrivaninha não vai sair. Não hoje;
talvez um dia, para não voltar —
quando um móvel sai é para não voltar.
Mas esse dia não é hoje.
A escrivaninha ainda serve:
por isso pertence, fica.
De certo modo, ela, a pessoa,
também ainda serve, por isso pertence, fica.
Mas sai de casa, mas não para não voltar.
Talvez um dia, mas não hoje.
Hoje, como em outros dias,
só fica a escrivaninha,
parada, quieta, no silêncio da casa,
embora não haja nexo ser móvel
para coisa nenhuma.
Mas para quem tem pernas
como as de pessoa, a função delas é ir;
as pernas de um móvel servem para
estar paradas.
Funciona ao contrário de certos objetos:
objetos que nem sequer têm pernas
e ainda assim estão sempre ao pé,
como pulseira ou livro:
coisas próximas de quem mexe quando mexe
ou de quem para quando para.
Talvez a própria pessoa sinta falta
de escrivaninha no andar;
para escrever, para apoiar,
para ter alento de quem descansa.
Mas o móvel é grande de mais,
não foi feito para isso.
Ela sabe-o;
sabe que não pode levá-lo consigo
— aquilo não vai, nem volta,
é só uma escrivaninha —
e é só por isso que, sem saber porquê,
sem saber como,
ela dá um beijo terno
à escrivaninha.
Um
beijo
demorado.
Talvez seja mais correto dizer:
ela deu um beijo na escrivaninha;
isto se a função da escrivaninha
é ser lugar, não objeto:
deixa-se para trás como todos os lugares,
não são coisas que se levam consigo.
Em todo o caso o beijo foi dado;
foi para dizer: vou mas volto.
E ela foi. Ela, a pessoa;
agora já está longe,
mas traz aquele beijo na boca,
ligeiro roçar de segredo que foi.
Beijaste um objeto, diz a si mesma.
Um objeto.
O que diria alguém se visse?
Não que isso importasse,
haver alguém que se incomodasse
por não ser destinatário.
Mas poderia alguém
que não é destinatário dizer:
«Que fixação é essa, beijar um móvel?»
Talvez seja uma crítica válida.
Beijar um móvel: um certo erro da função,
um equívoco à finalidade do uso.
Como quem delega a um utensílio
função que não lhe pertence;
ou como quem, por oposto,
trata uma criatura como tendo categoria
que não lhe corresponde;
como quem usa uma coxa
que não deveria ser usada assim:
não por si, ou não naquele momento,
ou não para aquilo;
como quem comete um desperdício
emocional, social, funcional,
abraçando um sofá como
quem abraça um amante
ou uma criança.
Um gesto que de certo modo
não pertence à sua natureza.
Ela sente-o ainda um pouco,
procurando ignorar a natureza,
arruma-o na mão,
mete no bolso, leva consigo.
Metade, aliás:
leva metade do beijo na mão,
mete no bolso, leva consigo.
A outra metade (se se pode ser proprietário)
é da escrivaninha — isto numa audácia
talvez presunçosa de tornar agente
algo que não pode ser culpado
nem inocente,
possuir ou descartar,
dizer “quero” ou
“não quero”.
De facto, a escrivaninha não pode fazer isso;
há aqui uma metade inimputável
como são inimputáveis
todas as coisas que por falta de protesto
se obriga a sujeitar a vontades nossas,
a comportamentos nossos,
quando o seu é nada a ver com aquilo.
Mas se uma metade do beijo é minha,
não vale o beijo todo?
Porque, no fundo, ninguém sabe o que beija;
talvez quem beija quer beijar
a quem não tem ali,
como quem beija até outra coisa
fazendo de aluguer, substituição:
foto ou talismã ao invés de um deus
que não tem a jeito cara ou mão,
ou quem beija fulano em vez de fulana,
ou pescoço em vez de boca.
Talvez os lábios gostem de sentir,
isso é na verdade mais receber do que dar,
a par de como recebe
aquilo que recebe.
Tal como criança quando sente beijo
enquanto dorme, ou cadáver que recebe
quando já não respira.
Até é possível que não haja sequer oferta:
no fundo, quem dá um beijo dá-lo a si mesmo,
entrega-se à consciência de ter tido acesso,
premeia-se o ato de gostar daquilo.
Ou dilui a vontade de ser beijado
quando não acontece.
Em termos matéricos, não há outro modo
na natureza das coisas,
dos corpos vivos, dos corpos inanimados,
das substâncias voláteis e das coisas incorpóreas,
do que ser arquivos de encosto,
do acidente ou da
disponibilidade.
Porque as coisas existem e estão disponíveis —
— eis a lei primeira dos volumes.
Quem observe de fora poderá talvez
considerar inútil um beijo dado
fora da categoria.
Mas o que é um beijo,
dentro da categoria?
O que é um toque do saborear,
a boca encostar-se em coisa que não vai ingerir,
para saber textura do que está perto,
como mãe vendo temperatura no filho,
análise do que está à tona
mas que, como a ingestão, permite sentir
mais dentro um outro dentro?
É certo que a escrivaninha
pouco tem para analisar.
Ela não tem interesses:
não está diferente hoje de ontem,
não se altera, a sua utilidade é ser
sempre igual a si mesma,
quer se lhe tenha dado beijo
muito ou nenhum.
No seu historial de resina e madeira
não há registos do sucedido.
Não é opção dela enojar-se,
ausentar-se, por esta tarde, por umas horas,
ou por um longo tempo,
pelo menos antes de ir embora
para sempre, um dia.
Não hoje,
não amanhã.
Se o dia chegar,
darás beijo de despedida?
Decerto é inútil a despedida
ao que não sofre consequência.
Afinal, qual a consequência de uma
mensagem de despedida?
Se um beijo dado, qualquer beijo,
a qualquer coisa, não muda o mexer
das coisas,
então para quê dá-lo, se a coisa não volta?
Uma coisa não voltar é
ela não precisar de mais beijo teu:
não deixa agenda, não faz com que mude,
não deixa incómodo, dúvida,
insegurança;
não cria mudança que se traga no depois,
uma nódoa de remorso,
uma doçura de amolgadela;
não deixa dilema que faça querer mais
o passado do que o futuro,
não faz com que matéria se sinta em breve
um pouco menos de si mesma
apesar de com o mesmo peso.
Um móvel não sabe o que é isso:
variações do que tem o mesmo peso.
A sua superfície,
com mais ou menos lascas,
com buracos, com crivos, é universal, aberta,
não vê detalhes, só regista o peso,
seja qual for a origem disso,
chaves, prato, ou cabeça que se encosta.
O estado das coisas vivas, esse, é outro,
em variações graduais do indefinível:
modo de estar à superfície e
mais do que isso, mesmo sem lasca à vista,
mais assunto do que só peso,
mais noção do que só ação,
efeitos complexos do que em qualquer encosto
poderia parecer simples, acidental,
ou encosto nenhum.
Porque os corpos vivos, esses
(coisas que escrivaninha talvez não entenda,
e seria ridículo tentar explicá-lo)
fazem coisas como “beijo”:
tipo de contacto que em termos de volume
não tem sequer efeito observável:
não faz crescer ramagem ou secar seiva,
não faz empenar porta ou rachar gaveta —
cumpre uma propositada inutilidade,
uma sem registo na lei das formas
que não suprime nem adiciona fenómenos
às camadas da matéria,
deixa as coisas iguais como se nada fosse,
apesar de algo, que não massa ou volume,
ter acontecido.
Espécie de amolgadela que faz pior quando falta:
quando um corpo traz na pele
o simples acto de ter acontecido
nada.
Falo de tudo isto, e a mulher já tocou
em coisas diferentes no dia hoje
em diferentes graus da sensibilidade.
É provável que ela volte,
ela, a pessoa, a que saiu para depois voltar,
com pernas de quem percorre o mapa
do que não está tudo no mesmo ponto ao mesmo
alcance.
Ou talvez o dia seja mesmo hoje:
o dia em que ela não volta:
porque mesmo que esse tal dia seja hoje,
é possível que ela nem tenha sido
informada disso —
de que esse dia chegou —
porque só se sabe que esse dia chegou
quando, por verificações de facto,
o outro, o seguinte, não vem.
De modo que nem ela, a pessoa, pode saber,
ao sair para voltar, se vai de facto
sair para voltar.
Coisas que acontecem a quem mexe
em relação a quem fica;
eis a variação ontológica
entre pés-de-ficar e pernas-de-ir,
como montanhas que sempre são
o que sempre são
porque paradas,
ou afinal não, porque afinal movem,
e mudam, e desaparecem, numa escala geológica
em que afinal têm pernas.
Tudo é destinos de não saber
por quanto tempo se voltará a ser de novo:
a sentir o encosto, a textura, o peso
do que se poderá nunca mais ter uso —
uma cara, um lugar, um pé, um sexo,
uma ideia, uma memória,
um instante,
um aperto, uma função, uma utilidade
material, sensorial, incidental, essencial,
pedaços de mundo que ficam para trás
e não correm ao nosso atrás
e podem ou não lá estar
no nosso voltar ou
não voltar;
o que é o mesmo que falar de coisas
que não nos pertencem, porque não as temos
— nunca as temos — nem enquanto vamos,
nem enquanto voltamos:
nem hoje, nem amanhã,
nem um dia;
coisas soltas quando acontece uma delas ir
quando outra fica,
distância igual que aumenta na medida árdua
de não mais para as duas haver temperatura
com a mão, com a pele, com a boca.
Linguagem dos que dão beijos:
o calor da temperatura, necessária ação
de coisas que dão beijos enquanto estão vivas,
no incidente táctil do carinho;
Se a mulher pratica “beijo”,
é porque ama, é para dizer: gosta, quer,
mapeia, distingue, agradece,
como cão que lambe ou polvo que entrelaça
mais para si, para ter mais perto à alma
um assunto da sua atenção,
mais perto aos olhos, ao tacto, ao cérebro,
ao olfato, ao palato, à pulsação,
ao equilíbrio, ao fôlego,
ao ventre, aos tentáculos,
às superfícies amplas ou recolhidas,
às firmes, moles, secas ou molhadas
que no mapa do corpo
são avais de reconhecimento;
intensidades variáveis
de relação com o que é raro,
seja qual a categoria dos materiais —
seja desses que nada dizem e nada fazem
mas existem e estão ao pé
quando se respira ou dorme ou cala,
fazendo a melhor função de ser cenário,
ou desses que vão e voltam e trazem surpresa
ou calendário ou horizontes ao
pensamento.
Afinal, dizer cidade ou tampo ou peito
é tão vago como pele, sensação, mancha,
multidão, madeira, vento,
funções maleáveis num absoluto
onde tudo é móvel e tudo é espaço,
parado quando se está parado
ou dinâmico quando o corpo avança —
dois fenómenos que, para os devidos efeitos,
são tudo.
É por isso, e só por isso,
e por uma certa crueldade das distâncias,
do que nos pode estar perto ou longe
— o dois verdadeiros extremos,
que o restante é só cenário —
que a mulher deu um reconhecimento de contacto
antes de sair para talvez voltar;
porque em último reduto,
para arquivos da matéria,
não há modo de saber que duas coisas existiam
ao longo do espaço, sendo só uma delas,
a não ser assumindo um efeito:
sendo infetado, alterado, amolgado,
sentindo um estrago, um aperto, uma sujidade,
uma amolgadela, uma qualquer
consequência mínima, ínfima, imanente,
ténue mas persistente,
residual mas vigente,
por se ter conhecido essa outra de perto,
de muito perto,
de mesmo muito perto,
antes de
ir
carta
Desculpa não ter dito nada ao telefone.
Explico-te o motivo.
Eu estava na estação e teria de desligar muito em breve, muito em breve, mas não sabia exatamente quando. Por isso não sabia quanto tempo mais poderia falar. Não sabia quantas coisas poderia dizer, entendes? E então apercebi-me.
Foi aí que eu me apercebi.
Se eu tivesse apenas tempo para te dizer dez frases, quais seriam?
Eu queria ter contigo uma conversa inteira... Qualquer, porque tu estarias nela: a tua mente, o teu raciocínio, a tua boca que me faz aprender, arregalar os olhos, sorrir. É disso que gosto quando estou contigo, fazes-me sentir mais do que só entretanto, há assuntos, pormenores, perguntas, novidades, mil vezes maiores do que o nada. Isso acontece e não tem assunto prévio, e não tem prazo.
Mas se tivéssemos apenas dez frases para dizer, quais seriam? O que poderia ser essencial face ao resto? Existiria tal coisa? Isto fez-me pensar que o momento ideal não existe, o assunto fulcral não existe: só existe estar em rodeios, em viagens. Não sabemos o centro das coisas, somente o que sentimos ou sonhamos a cada instante, fragmentos de fantasias, ou fantasias todas, muito abaixo de tudo aquilo que haveria para dizer. Mas se assim é, de que serve a linguagem? Pode ela falar do que é essencial, mais do que envolver-se continuamente em rodeios?
Ouve-me. Se tivéssemos apenas cinco frases um com o outro, quais seriam? É um esforço quase religioso, metafísico, uma tentativa de condensar em pouco o infinito. Se um tamanho de texto nunca chega a dizer tudo, pode ele, livro ou infinitas páginas, explicar o universo? Eu não quero ser abstrato no que estou a escrever, mesmo que pareça; ouve-me: se tivéssemos apenas cinco frases para dizer, o que me poderias dizer tu, o que te poderia dizer eu? Talvez nesse momento eu reconhecesse que o valioso de estar contigo é essa expectativa de qualquer coisa acontecer, ser dita, sem eu ter de saber de antemão qual é, porque ela virá, ela acontece. É bom que ao longo dos dias tenhamos tempo, uma sensação de imortalidade que nos permite não ter pressa: antes abertura, espontaneidade, para os assuntos surgirem. E o mundo tem tanta coisa...
Mas na estação não foi assim, eu tinha só minutos, ou pior, segundos, para dizer o que fosse, antes de não mais te ver: talvez só o suficiente de dizer três frases. Seria o mesmo que eu estar quase no fim desta carta e não ter mais onde escrever.
O que dizer?, pergunto-me, e escrevo. Assim escrevo: "o que dizer?" Mas ao escrevê-lo, continuo sem resposta, mais folha gasto, menos espaço tenho...
Sim, sei que poderia escrever: amo-te. Porque é verdade. Mas isso diz pouco. De dois que se falam, é claro que se amam. Isso não explica o porquê, os motivos, a vantagem disso comparado com a nossa ausência, o que pudesse convencer um deus a deixar-te ficar ou eu a ti dizendo "volta". Dizer que te amo é apenas um aparte, conclusão exterior, não a matéria prima que faz o momento. Seria igual a corrermos pela montanha e eu num instante perguntar-te "Gostas disto?" — e tu dizeres "Gosto". Saber que se gosta é bom, é bom saber isso: mas o momento em si, a polpa do assunto, é o estar a descer pela montanha... São coisas diferentes, o viver e o aperceber, e não posso fazer as duas ao mesmo tempo. Se te tenho para sempre, posso ser fluido contigo sobre todos os assuntos nesse agora, fazer as coisas que quiser sem me importar, sem pensar nisso; se tenho pouco tempo, tenho de pensar nesse pouco tempo, é já uma condição, um percalço, já não posso viver, ser fluido contigo sem me importar…
Por isso não falei ao telefone. Não sabia o que dizer. E agora, esta folha está a acabar. É igual: tenho medo, não quero… desperdiçar…
Ontem ouvi um pássaro, parecia triste. Achas que os pássaros criam a melodia? Pele tua é doce. Quero e não quero falar nisso.
Outras coisas. Púrpura do fim do dia. Não sentir o interior do braço. Acreditas em premonição? E se…
Faz pergunta. Imagina resposta. Oposto disso? Talvez. Manhã, concerto. Silêncio? Sal. Lembras, cor? Ent—… Por favor! Eu… contud… E — mas…
interesse
— Olha, queres vir connosco?
(hei, ouviste? Ela falou para ti.
Ela — acabou de falar para ti,
reparou que existes! A resposta é:
claro que vou! Esperei tanto por isto...
Mas como respondo? tem de
parecer natural, não sei
como possa ser.
Pensa rápido:
( Ok, aqui vai. Estamos aqui, o céu passa, as cores mudam. Nós estamos aqui reclinados, simplesmente, como quem não tem de ir a lado nenhum;
eu na verdade vim aqui para estar no meio destas pessoas que nem conheço. Mas eu não quero dizer isso, gostaria que parecesse mais casual, mais desinteressado.
Em todo o caso não é bom dizer que «eu queria» estar no meio destas pessoas. Dizer «querer» é rudimentar, dá a sensação de que eu precisava. Só «quer» quem precisa, quem não tem, quem está carente. Quem é independente não precisa de dizer que quer, nem pede: obtém e pronto.
Só as crianças dizem «quero» porque não sentem embaraço, não se importam de chorar, de fazer figuras tristes. São crianças; no fundo elas não sabem ainda o que é ter dignidade, o que é ter estatuto. Se elas soubessem, não chorariam, não diriam «mas eu quero!».
Mas enfim, as crianças são inexperientes, estão longe de saber que esconder fraquezas é um trunfo. Embora, afinal, nenhuma criança seja verdadeiramente fraca: toda a criança tem trunfos, tem estratégia, mesmo que não o saiba. Até o ar ingénuo de uma criança que dorme é recompensa que ela dá a quem a observa. De certo modo, as crianças são peritas no dar e receber, conseguem-no com muita facilidade, porque nascem a saber pedir. Simplesmente não pensam muito no estatuto que ganham ou perdem com isso. Até porque não precisam dele tão cedo. Aliás, talvez a criança até saiba fingir o que quer, fazer estratagemas para consegui-lo: nisso ela é capaz, é perita. Mas falta-lhe o saber aquilo que dá em troca, porque ainda não se apercebe de si mesma. Falta-lhe ser profissional na recompensa, é tosca nesse aspeto. É essa a diferença entre nós. Eu posso saber por que motivo alguém me dá alguma coisa ou quer alguma coisa de mim. Não sei se neste caso quero dar ou receber. Ela convidou-me: estou a receber uma generosidade?, ou uma caridade? Estou a aceitar por simples descaso? Ou ao aceitar estarei a reconhecer uma carência minha? Não posso. Não quero ser a única pessoa que recebe entre nós dois... Receber de graça é bom, claro. É vantajoso. De duas pessoas que estão uma com a outra, mais ganha aquela que tinha consigo menos coisas para dar, menos coisas com que ocupar o tempo, com que entreter. Essa é a pessoa que fica com mais lucro, porque tinha menos com que retribuir. De certo modo é a mais esperta, a pessoa que mais obtém com o mínimo de recursos. Mas também, essa pessoa que mais recebe é a mais pobre das duas, porque já era a mais simplória, a que tem uma personalidade menos interessante, a que menos merece inveja ou fascinação. Eu não quero ser visto assim, como a pessoa que tinha pouco para dar, de tal modo que quem me oferece algo fá-lo só para compensar, por pena. Não quero ser isento de fascínio, não quero ser visto apenas como singelo.
Além disso, a pessoa que tem menos recursos por si própria é a pessoa que geralmente mais facilmente se maravilha com as outras pessoas: é a pessoa que quer mais intensamente ficar com os outros porque certamente tem menos na sua vida com que se preencher a si própria. É a menos interessante. Por isso é que amar demasiado pode sempre dar a entender que não se tem nada para dar, antes só ânsia de receber. Quem suplica acaba por mostrar, ainda que sem querer, que já não tem mais nada para a troca, só consegue suplicar, só consegue dizer «mas por favor»...
Daí que, numa relação, quem tem mais coisas para oferecer, quem é mais interessante, mais abundante, é quem menos precisa de dar, porque no fundo não precisa assim tanto dessas outras pessoas a quem possa dar — porque de qualquer modo não precisa assim tanto de receber alguma coisa da parte delas. A verdadeira independência é não precisar de ninguém — essa é a pessoa mais completa, mais invejável, a mais independentemente. É a pessoa mais fixe. Ser fixe é dizer «não preciso disso», não ir atrás, não pedinchar, não depender de ninguém. Mas quem mais precisa de ter alguém ao seu lado, quem mais quer companhia dos outros por falta de recursos próprios, é quem mais precisaria de ser interessante para lhes dar lucro com a sua presença. É preciso ser-se muito vazio para amar muito facilmente os outros. E por paradoxo, por seu lado, ser interessante é não precisar assim tanto de alguém para se sentir suficiente sozinho. De modo que quem é mais fixe é quem mais consegue viver apenas de si próprio, sozinho. Nenhum jovem nem nenhum adulto gostaria de saber que é totalmente dependente de outra pessoa. As crianças sim, mas não nós. Quando menos se depende, mais indivíduo se é. Mas apesar de tudo, e contra isso, só se pode ser «fixe» aos olhos dos outros: aos olhos dessas pessoas de que não se precisa. O que paradoxalmente exige a presença dessas pessoas de que não se precisa, como que beneficiando de uma audiência fingindo que não lhe presta atenção. No fundo, eu sei que ninguém veio aqui só para ver o sol: viemos aqui para dizer que não precisamos uns dos outros, que somos fixes e independentes, que estávamos aqui só com nós mesmos, cada um por si.
Aliás, eles nem são meus amigos, eu é que sou clandestino aqui. Eu é que sou clandestino... Eu é que vim procurar o que não tinha noutro lugar, ou noutras pessoas; eu é que vim aqui ter como quem procura, quase como quem pede, porque não sabe como encontrá-lo por si. Mas talvez até se possa dizer: eles são amigos uns dos outros, já vêm aqui regularmente sem sequer ter de pensar no que recebem: são inferiores a mim, precisam-se uns dos outros, são incompletos porque nem sequer preferem estar sozinhos. Mas eu estou aqui sozinho e forasteiro, ninguém sabe se quero ou se preciso, pelo que eles não sabem se eu tenho alguma necessidade ou alguma carência. E apesar de tudo, eles têm uma vantagem. Se eles querem alguma coisa, nem sequer têm de pedir-se uns aos outros, dão-se gratuitamente sem sequer ter de implorar, porque são amigos. E por um lado, os mais admiráveis, os mais impressionantes, os mais fixes, são aqueles que usufruem do que querem sem ter sequer de pedir — sem ter sequer de assumir-se carentes, sem chegar a humilhar-se em prol disso — porque toda a gente os quer agradar naturalmente. Embora esses indivíduos possam correr o risco de só receber coisas que não querem, porque não chegam a dizer aos outros o que querem. De certo modo, talvez seja preferível pedir, pedinchar, querer, e encontrar o que ser, do que ser demasiado cool e nunca encontrar o que se queria. De facto é preciso coragem para assumir, para chorar, para encontrar o que se quer mesmo, independentemente de isso ser ou não fixe aos olhos dos outros, de pessoas que não se quer ou de que não se precisa a não ser para ter uma melhor imagem de si mesmo. Mas uma pessoa verdadeiramente fixe precisa dessa imagem? Talvez isso nunca funcione deveras, de qualquer modo, se ser cool implica ter aquilo que os outros querem, o que os outros valorizam, em vez de aquilo que se quer verdadeiramente por si só. No fundo, só quem é fixe sabe o que não consegue ter, ninguém mais se apercebe disso. De modo que as coisas que verdadeiramente se quer estão acima de ser fixe ou não: ser fixe é só estratégia, negócios do comum; o que se quer mesmo está noutro patamar...
Mas eu quero ir com ela — isso é ridículo? É lamechas? É casual? É especial? Ela está a pedir-me, ou antes a oferecer? Ela disse «queres vir» para saber se eu quero. Eu não sei se quero, se preciso. Não sei se não conseguiria viver sem isso ou se no fundo é tudo o que desejo porque não tenho outra coisa que mais quisesse neste momento; porque neste momento não tenho melhor coisa que poderia obter na minha vida; e eu tenho recursos, eu sei disso, eu sei que tenho, acho que sim... Mas eu nem sequer sei se o que ela quer é igual àquilo que todos os outros querem. Eu não quero isso; e na verdade eu nem sequer a conheço bem. E não sei sequer se ela apreciaria o que eu teria para lhe retribuir; quero até dizer-lhe que não tenho nada a ver com esta gente, não vim aqui para ter deles o que eu quisesse deveras pedir. Com grado lhe diria: «não os conheço, sou clandestino, dispenso-os a todos» — esta é a verdade: dispenso-os a todos, a TODOS, mas não como quem é fixe, não como quem é cool, não como quem quer apenas dizer «não me apetece» só porque na verdade quer... O que eu quero é outra coisa, nada a ver com isto; e não sei se isso que quero querer como quem precisa, ou como quem ambiciona; haverá diferença? Sinto que o que eu quero é valioso de mais para dizer apenas «apetece-me» ou «não me apetece», mesmo que pelo seu valor me faça estar mais perto do preciso, do quero, do anseio com desespero...
mas eu não sei como dizê-lo... Nem sei como dar-lhe a entender que não tenho um modo simples de dizer o que quero ou não quero, não é linear, é mais complexo do que isso, mais confuso do que isso; e não posso nem quero falar na maneira brusca e seca que fala só quem não quer mesmo nada, ou quem só quer uma coisa banal, ou quem nem se apercebe do valor do que se lhe está a ser mostrado, como quem finge que não quer só porque quer atenção, ou como quem não quer nada porque não tem coragem de verdadeiramente querer...
como digo isso? )
eu... o quê;
vais, onde —
tu, ir? mas;
ah, bem,
não sei;
matéria prima
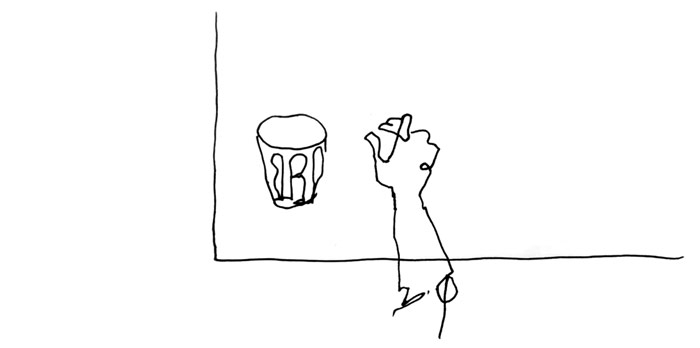
Fiquei com uma dúvida.
Estou a olhar para o copo
Dentro deste copo, está ar.
Aliás, já estaria ali ar; o copo só ajuda a perceber isso.
"Tens aqui um copo de espaço livre, podes utilizar" —
é isso o que o copo diz.
Mas não estou a aceder ao convite: não estou a utilizar, não estou a ocupar o espaço de ar que há dentro desse copo.
Nem estou a senti-lo de longe,
nem a perceber vento ou aroma que venha dali.
O meu braço está ao lado do copo.
Imaginemos: coloco ali o braço onde está o copo:
empurro o copo, fica ali o meu braço.
"Tens aqui um braço de espaço livre, podes usar": a frase ainda é válida. Há uma medida: um pedaço de espaço livre — e já não está ali o copo, mas a medida de espaço livre continua a mesma.
Mas agora está a ser ocupada pelo meu braço.
"podes utilizar."
Podes utilizar: essa amostra de espaço que está cheia de braço.
E a pergunta é: como?
Haverá uma brisa, um fenómeno, que venha dali, daquele pedaço de braço? Algo que eu possa fruir por fora, algo que eu possa investigar por dentro?
De certo modo, isto é estranho.
O braço é meu, é ferramenta minha, e ainda assim está fora, está aqui mesmo à minha frente.
Como usar esse espaço exterior ocupado pelo meu próprio braço?
Ele é o espaço, ou aquilo que o utiliza?
gestão de um recurso
Eu tenho um segredo.
{ . . . . . . . }
Segredo: um fenómeno que o mundo não está a usar, porque nem sequer sabe que existe.
Há mil anos atrás, ter segredos deveria certamente ser um ato de heresia. Um ato contra a harmonia das coisas: contra Deus. O segredo é uma espécie de clandestinidade que resiste às regras, às doutrinas, às escrituras, porque não se deixa definir por elas. É a partir do segredo, daquilo que não foi previsto, daquilo que se esconde, que o pecado nasce.
Mil anos depois, numa sociedade secular e democrática, ter segredos será certamente banal. Não há detalhe que possa ser herético quando não existe uma verdade universal a querer explicar todos os assuntos.
*
As sociedades mudam à medida que se partilham segredos. É um fenómeno de acumulação do tempo.
Quando dois ou mais indivíduos revelam um segredo, instauram no geral certos aspetos do sinistro. Do sinistro: do modo logístico com que uma coisa, mesmo a mais simples, afinal não acontece do modo que se pensaria.
Quando juntamos os nossos segredos, de certo modo protegemo-nos uns aos outros.
Uma sociedade assume como bélicos certos aspetos da peculiaridade:
Esta é a nossa arma de força: somos assim e funcionamos.
O que decerto retira a cada indivíduo um peso excessivo dos seus ombros. O peso da solidão.
Diga-se assim: retira-lhe o peso, ou seja, alivia-lhe o problema.
Ou até: resolve-o por ele.
Não mais precisar de ter segredos:
alcançar a proeza de pertencer, usufruir de harmonia, ser igual a todos aqueles com quem se existe.
Ser do mesmo sangue, con-viver, partilhar.
Não haver mais fator de diferenciação entre o só e o envolvente.
No fundo, essa é a maior harmonia que se pode atingir:
não termos segredos, que é o mesmo que dizer: sermos feitos dos mesmos materiais.
Procuramos e oferecemos as mesmas coisas. Não temos atritos internos resistindo à natureza externa. O que te fortalece a ti, fortalece a mim.
O que, contudo, também indica:
o que contamina a ti, contamina a mim.
Possuímos todos uma mesma coisa (um segredo):
quem o rege, quem o decide, quem o ratifica?
De certo modo, todo o segredo que se partilha deixa de ser segredo:
já não te pertence, já não é teu, já não mora na tua essência. Já não está no teu controle.
Haverá alguma coisa que possas proteger de contaminação externa?
Hipoteticamente, o maior segredo possível será talvez este: o que em ti tornas sagrado.
O que é o mesmo que dizer: o que de ti retiras do mundo para ser regido apenas pelas tuas próprias leis.
Definição de "sagrado": o que, de tão diferente de tudo o resto, não pode ser regido por regras externas.
Eis o trunfo de se possuir uma religião.
Ninguém mais poder contaminar-te: o segredo é teu, ninguém o determina; não podes ser contrariado, subjugado, convertido.
O que é sagrado, é segredo.
O que é segredo, é sagrado.
Não há segredos que nos unam a todos de modo universal: apesar disso, todos continuamos a ter segredos individuais.
E se um segredo nos une a todos, a literalmente todos, deixa de ser um segredo.
Um segredo só nos pode diferenciar de uma coisa que não sabe desse segredo.
Em suma: de uma coisa que desconhece a nossa natureza.
Democracia, teocracia, são no fundo coisas iguais. A mensagem é a mesma:
somos feitos da mesma matéria.
Ou que de certo modo é dizer isto:
O que explica um, explica todos.
Isso tem vantagens.
Terapia é: partilhar segredos.
Partilhar segredos:
a possibilidade de um trauma não mais ter de ser trauma pessoal, excecional:
não mais te invalida, não mais te isola;
não mais tem de ser um sofrimento só teu, que carregas sozinho nos teus ombros. Pode ser partilhado, compreendido, sentido, reconhecido por outros.
Tornar banalidade o que era demónio: enfraquecê-lo por explicação externa.
Por explicação reconhecida, aceite, abraçada.
Externa.
Quero falar com o meu terapeuta.
Sei que para haver terapia tenho de me abrir, contar os meus segredos.
Se não o fizer, não há processo de terapia.
Mas... Contarei tudo? Revelo só uma parte?
Se me curo, liberto-me do que me traumatiza.
Do que me vicia.
Do que me diferencia.
Pensando nisto.
O aspeto mais profundo de um indivíduo deve ser aberto, ou deve ser segredo?
Deve tornar-nos iguais ou diferentes?
Não sei se me quero revelar:
seja para a sociedade ridicularizar o meu segredo, invalidá-lo;
ou seja para ela o apropriar, e o instaurar, e o difundir.
Em todo o caso, depois disso continuarei a ser um indivíduo:
e isso é íntimo, e é clandestino,
e é indiferente à época.
*
Tenho de falar com o meu terapeuta.
Não sei o que lhe diga.
tony
não é o miúdo que fala: é o seu dedo que fala.
Chama-se "Tony", e diz para a mãe:
Sim, Sra. Torrance.
Não é o filho que diz: sim, mãe.
É o seu dedo que diz: Sim, Sra. Torrance.
Do mesmo modo, o menino não diz “eu”.
É o dedo que diz: ele.
Portanto, se a mãe pergunta "o que achas de fazermos isto"?,
a criança não diz quero, nem diz não quero.
Apenas diz "O Tony não gosta".
E se a mãe pergunta porquê, a criança responde:
"O Tony não quer falar sobre isso."
O dedo faz de intermediário,
acrescenta uma etapa na transmissão das mensagens:
tudo passa pelo dedo antes de sair do miúdo ou de chegar à mãe.
O dedo nem sequer participa nas coisas: não se pode dizer que
ele seja vivo, ou que pertença à família:
é simplesmente obrigado a estar ali, como quem assiste
sem poder participar, como se fosse essa a sua função
e ele nem tivesse de ter opinião sobre os assuntos,
nem tivesse de dizer: gosto de fazer este trabalho,
ou: estou aborrecido.
É um obstáculo extra na comunicação que se assume,
um estranho degrau: cria um triângulo,
a mensagem passa por um terceiro vértice antes de chegar ao recetor.
Mas há qui uma grande vantagem, uma vantagem profunda.
Na verdade, esta é a grande habilidade do dedo Tony.
Ele não tem de dizer “eu”. Ele não tem de dizer “sinto”.
Ele não pode ser acusado, humilhado, magoado, denunciado,
porque ele não pertence a esta arena da existência.
Ele não tem de proteger a sua integridade e convencer pessoas
a amá-lo para que não o assassinem.
Ele não tem de procurar uma teoria com que explicar aos outros
que a sua presença é importante e não deve ser ameaçada.
Ele não tem de ser acusado de ter interesses, porque
até mesmo o ato de querer estar vivo é um interesse.
De qualquer pessoa pode dizer-se:
"tu pensas assim porque no fundo
tens de proteger a tua pessoa."
É cruel saber-se que qualquer opinião que tenhamos
começa inevitavelmente por defender-nos a nós próprios;
é difícil ter uma opinião que não nos favoreça,
é difícil seguir uma teoria do universo que não defenda
coisas iguais a nós, só porque queremos tão esperançosamente
ter direito a estar, e a continuar, vivos.
É essa a vantagem do dedo "Tony",
um certo ponto à frente em relação a todas as coisas
que existem: o facto de não existir.
Igual, talvez, a uma dessas personalidades fictícias
que vem em socorro de uma pessoa quando a realidade é demasiada;
igual a qualquer mensagem simbólica que se usa em vez de assumir
o discurso direto. Ou igual à própria abstenção de qualquer mensagem,
se em comparação com o silêncio a voz é já uma coisa que existe,
uma coisa que se expõe, que fica a nu, que pode ser violentada
assim que faz eco.
O simples ato de falar é já um perigo imenso,
é já um dizer “estou aqui, olhem para mim, estou à mercê”.
Ou também: “se quero, se peço, é porque não tenho, é porque preciso,
é porque podem não mo dar; é porque podem-me deixar não existir”.
Daí que será melhor deixar para o dedo Tony o critério:
se ele te permite dizer isto, ou aquilo, ou se hoje não deves.
É a ele que pode apetecer ou não,
é ele que pode ter ou não vontade de dizer o que seja,
arriscar-se ou não no que seja, expor ou esconder a criança
do que seja, autorizando-a ou proibindo-a. Porque assim,
a culpa é sempre do dedo Tony —
e vocês podem estar zangados com ele,
podem ralhar-lhe, gritar-lhe, podem querer denegri-lo;
ele não se importa.
Ele não tem embaraços.
Ele não tem medo.
Ele é abstrato, portanto não precisa disso.
(do filme The Shining — Kubrik, 1980)
metacarpo
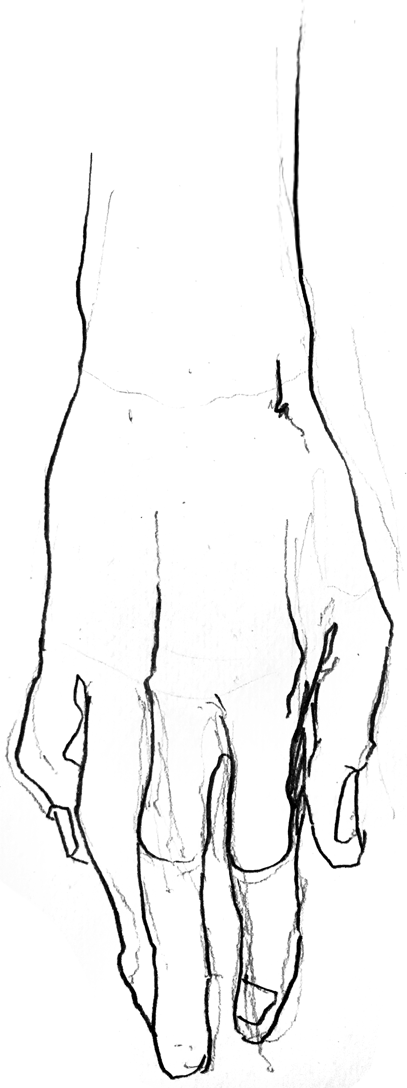
As minhas mãos parecem de pintor;
disse ela. O que é mentira, mas é bonito.
Ela não conhece pintores; viu mãos
talvez num filme, ou pinturas de igreja,
e imaginou as dos pintores assim. Mãos
que parecem capazes de fazer coisas
grandes, pintar, esculpir, arquitetar,
compor, operar, polir. Mas não:
não sei fazer nada extraordinário.
Aliás nenhum rei, santo ou divindade
teria necessariamente mãos assim só por
ser rei, ou santo, ou divindade. Mas
para quem acredita, serão talvez belas
as mãos que fazem belo... — Contudo,
os melhores atletas têm detalhes feios
no corpo. A deformidade desses
detalhes é o que mostra a sua habilidade.
São peritos em fazer, não em parecer:
a arte de fazer e parecer não são o mesmo.
Num aspeto, até são verbos opostos:
ser, parecer. "Parece" aquilo que não é.
No fundo, só a verdadeira habilidade
deveria ser visível, as capacidades
efetivas das mãos, não a mera beleza. Ou
não? Porque se há uma forma final,
a que espera desde criança em direção
ao adulto, por que razão não é ela neces-
sariamente a forma perita, a dos talentos
finais? Mas não; há mãos que já fazem o
soberbo quando ainda novas; e mãos que,
sempre feias, ou artritosas, ou ainda
incompletas, ou imaturas, ou sem dedos,
ou sem mãos, fazem o que mãos "normais",
"belas" e "acabadas" não conseguem.
Ter mãos que parecem perfeitas é isso:
parecem. Mas o que elas conseguem
depende de mim, e ninguém mo perguntou.
Porque se, supostamente, já tenho idade,
é tempo de fazer qualquer coisa importante,
para a qual as mãos confirmam a validade.
Mas ninguém me pergunta. Olham-me apenas,
julgando que, se tenho idade, saberei.
Afinal, se tenho dedos compridos e pêlos
nas falanges e metacarpo, já estou no
patamar. Mas que patamar é esse,
se as ideias podem demorar mais tempo
do que as mãos a crescer? Aliás, na
minha classe só as minhas mãos
parecem adultas: mais do que só
pequenas, rasas, toscas. Talvez
ninguém perceba que todos nós ali
temos a mesma idade. Eu sou o maior
pelo ângulo do osso do metacarpo.
Metacarpo. Meta... Meta—carpo.
Meta-zóico. Meta-morfose. Meta—física.
Carpo. Meta-carpo. Meta-meta-carpo.
Haverá meta último das coisas?
Qual a extensão última que os dedos
podem atingir na articulação do crescimento?
Porque, de certo modo, atribui-se
a todo o adulto metacarpo qualidades
que apenas alguns, raros, atingem,
em raras circunstâncias. Poucos sabem
desenhar uma catedral, mas todos sabem
que elas existem; poucos observam as
órbitas, mas todos sabem a estrela polar.
Tem-se que um adulto sabe o que deve,
quando a cada dez ou talvez cem anos alguém
propõe um novo meta do que poderia. Talvez
cada meta que nos há no corpo
não seja uma meta, um crescer até ali: mas
afinal o seu próprio além; extensão ínfima
que se vai livre prolongando sem ter um
previsto ponto final da unha; Talvez mãos
minhas, os meus dedos, unhas, estejam
longe do ponto ideal, que ele não existe;
Talvez possa ter-se formas belas ou
hediondas no decorrer de coisas novas
que se fazem, pensam, dizem… Não sei;
E eu nem sequer sei se isso tem de ser
raro ou normal; mas se as coisas in-
-esperadas são contrastes à anatomia,
sei que, no fundo, nenhuma concórdia ou
maioridade dos outros pode implicar-me:
porque não sei o que procuro, não posso sequer
saber se isso que sinto, penso ou tento é algo
que eles, de seu metacarpo, possuiriam; —
que só eu posso esperar ver novas metas
nos metas do meu corpo; E,
no fundo, eu não sei se ela me admira
e eles me aprovam só por eu parecer
final, finalizado; o que me ofende
um bocadinho. Não sei se quero
aceitá-lo; nem sei, sequer, que
ela goste de mim por uma parte
que eu ainda não sei, que eu
ainda não sou, que ainda
cresce, que ainda
não terminou...
tourette
Ele tem síndrome de Tourette.
Ele diz: — Linguaruda! Megera.
Punhete!
Burro de merda.
Os outros em volta já aprenderam a tolerar, a ignorar. O rapaz tem Tourette diagnosticada: é mais forte do que ele, não consegue evitar o impulso de dizer estas coisas, e não pretende dizê-lo deveras. Por isso eles toleram, ignoram.
O que é pena.
Ora observe-se — aquela mulher, aquela ali, a que fala e resmunga de um modo extremamente irritante — não é apropriado chamá-la linguaruda?
E aquele indivíduo, que acabou de humilhar uma pessoa em público e depois fez um erro exatamente igual?
É mesmo um burro de merda.
Talvez o rapaz não goste dizer estas coisas; contudo, é certo que as pensou. Eu assim o pensei, ao ver aquelas cenas — foi imediato. Não porque quisesse pensá-lo, mas as coisas que se pensam são pensadas porque fazem sentido. Aliás, é-nos inevitável: o cérebro fá-lo sem a nossa aprovação, porque precisa: precisa de analisar o envolvente para poder sobreviver, mesmo quando nós estamos distraídos. Para sobreviver: para se manter íntegro, para preservar-se, para expelir o que ameaça. Algo igual ao termostato que opera em variações subtis ou à bomba que explode quando sufocada por materiais ativos.
Sei, talvez isto pareça um exagero; é certo que um simples incómodo não pode ser considerado uma ameaça à nossa sobrevivência. Vendo bem, uma pessoa irritante não é um perigo vital ao corpo — pelo menos, até certo ponto.
Até certo
ponto.
Mas talvez, instante a instante, milissegundo a milissegundo, haja no cerne do indivíduo um processo indecifrável, lá naquele sítio onde acontece a harmonia ou o desespero, a simbiose essencial que nos faz amar uma pessoa ou desejar que ela morra — algo que só em caso extremo deflagra, mas que em pequenos alarmes põe de sentinela o organismo. No fundo, um tipo de reivindicação para a qual as faculdades da raiva são vitais: para mudar o mundo, à força se for preciso, se se exigir uma energia que não vem espontaneamente em tempos de cortesia ou tranquilidade.
No fundo, não sei se falo sequer de patologia. O miúdo tem Tourette, que é um modo de dizer: tem nome peculiar para um tipo de impulso que lhe acontece — e é tudo. Pelo menos esse é o sintoma, é o que se pode observar. A medicina começa assim: com os sinais de fora, com as coisas que se mostra. Só essas geram as categorias que depois se tentam entender por dentro. Porque só estranhando, desaprovando o que se veja por fora permite partir do princípio de que por dentro não deveria ser assim.
E talvez não deva deveras ser assim. O rapaz grita —
punhete!
— e eu não sei o que lhe aconteceu por dentro: talvez uma das mil prováveis irritações que podem acontecer dentro de nós ao longo dessa sequência misteriosa entre mente e nervo,
entre nervo e músculo,
entre músculo e pele,
entre pele e mundo.
A falarmos de erros de sequência, talvez tudo seja se não um erro cosmológico: um erro que se verifica entre as incongruências do agora e o ponto que deu origem a todas as coisas no estado em que estão. Solução, solução deveras, seria ir à raiz de todos os problemas em ordem inversa — procurando o erro de fase entre um incidente e outro, entre um músculo e outro, entre um átomo e outro, entre um nada e outro, lá bem no centro, até àquele ponto pendular a que se deveria chamar de ‟finalidade das partículas”: do corpo, da alma, do cosmos — para se poder extrair as derivações más e corrigir a sequência.
Qualquer que seja a solução, talvez venha já tarde: vir a tempo seria essa desadequação não existir em primeiro lugar. Não sei se tudo o que vem já tarde não é certamente uma questão de medicina ontológica, antes de remedeio: de improviso, reformulação, desarrumação, ou mesmo fantasia. Algo que ao longo dos tempos trará para o dicionário novos nomes para certos sintomas sempre que outros parecem estar resolvidos.
No caso do rapaz, talvez se possa dizer:
saber-se-á se uma cura universal para a existência funcionou se, aplicando-a a todos os indivíduos com Tourette, nenhum deles disser mais coisa nenhuma. Ou, pelo contrário, se todos disserem coisas como: Espetáculo. Bem feito. Cum catano. Ámen.
Mas se algum disser:
Punhete,
cabrão de merda,
medicona,
é porque a solução não funcionou, e o mundo continua, por todo o lado, a sofrer contusões de organismo. Basta prestarmos atenção aos mais pequenos desesperos do dia a dia — dos teus, rapaz,
e dos meus, quaisquer que sejam
os nossos pensamentos.
conversas com médico (2/4)
Estou tão atrasado...
Seria talvez melhor eu não ter vindo de todo?
Como assim? Preferiria não estar aqui?
Não sei... Com tão pouco tempo que nos resta,
de que havemos de falar?
Bem, falarmos sobre isto é já haver esta sessão.
Não sei o que venho fazer, com tão pouco tempo... Aliás, hoje não quero fazer nada. Deixe-me dizer-lhe:
hoje, quis morrer, não mais fazer. Não mais estar aqui.
Nem aqui. Nem aqui.
morrer, entende?… Não deveria haver palavra para isso,
"morrer". Tudo deveria ser, simplesmente, não estar aqui.
Entendo. Mas se quiser, este momento em que estamos pode ser já outra coisa. Onde não há estar atrasado nem andar à pressa. Até porque,
para quem ponderou matar-se, chegar atrasado
é chegar sempre a tempo.
A tempo de quê? De viver? Eu nunca soube como viver… Antes nunca chegasse a fazê-lo, tarde nem cedo.
— Como assim? Há prazo para saber como viver?
— Talvez não; mas seria mais interessante saber
como ser vivo antes de morrer. Caso contrário, não sei
se cheguei a sê-lo. Melhor do que estar sempre preso
em dúvida, em medo: o que é igual a não chegar
a lado nenhum, não chegar sequer a saborear a liberdade.
— Talvez. Mas ter tempo para resolver um dilema é em si um sinal de liberdade. Ninguém o apressa. Ninguém decide por si.
— Ainda assim, sinto-me preso...
— Preso por quem, ou por quem?
— Não sei. Por ninguém, na verdade...
— Nesse caso, suponho que seja… por si próprio?
Essa é a pior prisão: a que damos a nós mesmos.
Porque se a damos, não é por ódio — é por conforto:
torna-se difícil querer verdadeiramente fugir a isso.
E de qualquer modo não há fugir de quem nos oprime,
porque moramos com ele, é metade de nós. Se assim é,
a parte de nós que foge pode fugir o quanto queira,
de pouco vale. É preciso a outra parte,
a parte que tem a chave,
abrir.
Sabe,
não há como escapar a um medo fugindo dele.
A única solução é abri-lo.
— Tentei. Ando há anos a tentá-lo. Mas mais uma vez, hoje não consegui. Não consegui...
— Descreva-me o que se passou.
— Eu… Eu estava frente ao comboio. Junto à linha. Queria saltar. Finalmente: depois de tantos anos, queria saltar. Tive essa sensação pesada na minha cabeça, a de que depois de tantos anos ainda não o fiz, e já pensei nisso tantas vezes… Já estou atrasado. Mas mais uma vez, por algum motivo, não o fiz. Não o fiz… Por isso cheguei atrasado aqui. O erro foi eu chegar atrasado, foi o chegar. Eu queria chegar mais nunca. Mas de novo escolhi a mesma coisa de sempre: continuar a viver. Porquê?... É medo, medo de morrer? Se assim é, porque não cometo esta coragem? Por que motivo tem a morte de ser uma coisa proibida, intocável? Biograficamente, já é tarde. Já nasci, estou aqui. O facto de permanecer vivo passando os segundos dá talvez a sensação de eu aprovar estar vivo; mas eu não aprovo necessariamente só porque nasci e estou aqui. Aconteceu sem o meu consentimento, sabe? Sinto uma opressão básica que não tem a ver com o poder mexer daqui para ali; quero poder mexer-me para lado nenhum, evadir-me sem ser trazendo este corpo comigo. Sinto-me preso e não sei como, como se os braços tivessem palas e eu não pudesse fazer outro além daquilo que tenho de fazer. Até mesmo saltar para debaixo de um comboio é previsível, fá-lo quem tem braços e pernas e tem de fazer alguma coisa com eles. Estou cansado disso...
— Haverá talvez alguma coisa que você deseje,
uma coisa que faça sentido para si, e para a qual
o braço possa ajudar?
— Mas um braço não pode seguir todas as direções,
apenas uma... Ser-se já braço e seguir direções
que se permite ao braço é ele seguir
hipóteses poucas. Não posso fazer o que lhe
seja anatomicamente complicado. Não posso escolher
mandar vir algo até mim sem me mexer para isso.
Não posso fazer mais do que só uma coisa
a cada momento, porque cada braço é só um.
— Ah... E a liberdade, é quantas coisas ao mesmo tempo?
Liberdade: fugir de quê? Se uma coisa, uma coisa que é livre,
vai daqui para ali, quando chega ali ainda é só ela mesma?
E se ela não quer fugir, apenas quer escolher,
voar, fluir... de quantas direções necessita?
Talvez lhe baste escolher, a cada momento,
uma só direção. Decerto é preciso coragem para isso:
para enveredar numa aventura do peculiar.
Seria decerto mais justo, e menos solitário, poder ser-se
todos os agentes e todos os pontos de vista,
para não cometer o erro do privilégio ou da ignorância.
É um grande desafio assumir ser-se só a si mesmo.
E eu nisso não posso dizer mais do que sendo só eu,
também sofro esse mesmo constrangimento.
Mas não poder escolher muitas coisas não tem a ver com falta
de liberdade, antes com especificidade. Ser-se só
uma coisa, ou ser-se muitas.
Decerto é horrível poder ser-se só uma coisa,
no meio de tantas, ou apesar de tantas...
E isso tanto mais será sufocante em quem precisa
da certeza de ter um mundo no seu geral seguro
antes de poder investir num qualquer caminho particular.
Talvez o problema seja esse: ser-se demasiado
uma só coisa por muito tempo. Ou não amar outras.
Ou não se colocar no lugar de outras,
sendo-se a que se é. Um modo, talvez,
de não se ser só a si.
— É fácil dizê-lo quando se é uma coisa de que se gosta.
Mas ser forçado a ser o que se rejeita, de que vale?
— E ser forçado a ser todas as coisas?
Não poder escolher, nem rejeitar?
Poder escolher: poder rejeitar. Dizer sim, quero,
ou: dispenso, rejeito, é-me demasiado...
Possibilidade de uma coisa não ter de ser tudo,
continuar a ser só um pormenor, um momento,
de modo que se possa sê-lo todo...
— Você diz isso e talvez este momento lhe agrade; estamos a falar, é o seu trabalho, você aprecia-me ou despreza-me como quem tem poder para fruir e saboreia. Eu na sua frente mexo este braço enquanto falo —
e isso talvez dê aos seus olhos sensações, movimentos no ar,
como se a cada instante cada gesto meu fosse uma coisa nova.
fosse uma coisa nova. Talvez seja; e ao mesmo tempo,
Só você não me conhece; para si eu sou um estímulo;
para mim, isto são só os gestos do meu velho braço.
Só eu posso estar cansado de sentir-me repetido comigo mesmo,
e não ver nisso saída. Ao fim de cada sessão,
continuo a ser o velho eu a fazer as mesmas coisas.
...
Você teria algo de mais radical para me dar? Uma reformulação,
uma sedução, uma liberdade absoluta
que me fizesse sair da minha velha prisão de mim mesmo?
— Ah, eu não posso… Desculpe...
Não posso oferecer-lhe liberdade nenhuma. Porque eu
sou só eu: quando imagino a ideia de "liberdade",
imagino inevitavelmente as coisas que eu gostaria
que os outros fizessem de livre vontade.
A sua liberdade, se for liberdade deveras,
será algo que eu até posso nem entender.
Se eu não a entender, se eu não tiver sequer de entender,
de modo que não posso aprovar, nem explicar,
então ela será deveras liberdade.
A não ser que, por motivos de conforto,
insegurança ou tranquilidade, ou amor,
você prefira uma liberdade dada por outrem,
talvez mais eficaz e poética
do que as que ponderou por si mesmo.
Qualquer que ela seja, só a si deve convencer.
Se me permite, se posso dizê-lo, talvez
a sua liberdade não seja verdadeiramente sua.
Talvez alguém na sua cabeça lhe dê as ordens.
— Na minha cabeça não há se não um negro fundo
a sugerir-me isto: «Ouve-me, deixa de ser cobarde;
o suicídio é uma libertação, e tu não és capaz.
Tanta gente já foi, e talvez o desejasse menos,
e foi de impulso, e foi primeiro.»
É contra esta voz que me revolto; e quero dizer-lhe
que sou capaz do que consigo; que consigo
sair deste mundo quando me é já tão óbvio
que não tenho desejo de estar nele.
— Essa discussão parece de facto intensa.
Toda a discussão é uma prisão, uma eterna insistência,
uma obsessão, um desespero.
Um hábito, uma frustração, uma competição.
Algo que decerto deriva de um adversário antigo.
Um pai. Um medo. Um mundo. Um deus.
Uma imagem que você faça de si mesmo.
De tal modo que, talvez, mesmo a palavra “liberdade”
se pode tornar um vício, uma corrupção.
Talvez devamos pôr aqui um travão:
sugiro que evitemos esta palavra, liberdade.
Para evitar equívocos. Você tem de morrer para ser livre?
Tem de — Tem de — Tem de.
Isto parece-me tudo menos livre.
Antes parece provocações de criança,
ou pressões do sucesso ou do criticismo.
Neste momento, talvez seja melhor usar uma qualquer outra
palavra do dicionário: uma que, nos dias de hoje,
na nossa época, seja usada de modo casual,
sem vícios, sem pressupostos.
— Nesse caso, talvez possamos tentar ter esta conversa
falando de vida, morte, deus, corpo, ideia, mente,
sem os mesmos vícios...
E nesse caso, como? Se toda a linguagem nos foi dada de fora…
Que «deus», se demasiado subtil? Que morte, se ninguém a viu?
Corpo, o que é isto? O meu? O seu?
De que coisas podemos então falar, se no fundo
não podemos falar de nada? E talvez isso seja bom,
e me liberte de conceitos enraizados que eu tinha;
ou talvez ainda aí os meus desesperos permaneçam,
como muitas vezes são daltónicos e analfabetos
os nossos sufocos mais íntimos...
— De facto. Talvez eu gostasse de ensinar-lhe palavras
sem outras insinuações que não elas mesmas...
mas sei que isso não existe; seria apenas eu a ensinar-lhe coisas como as penso, ou você a interpretá-las num erro igual ao que viveu até aqui. Ideal, verdadeiramente ideal, seria voltar ao estado de criança, e viver outras coisas outra vez. E eu por vezes tento, e não consigo. Sabe, também já cresci muito: já tive ao longo dos anos muitas discussões conjugais comigo, com o mundo, com pessoas que amo, com pessoas que odeio. Discussões que fazem as palavras ficarem vincadas na mente como quem prepara já um argumento com todas as cargas antes da próxima discussão. Mas existem momentos da vida,
como este — o do suicídio — que são uma espécie de limpeza de linguagem: momentos em que se tira das palavras a importância ou o significado que lhes demos. Matar-se a si mesmo: matar a ideia de corpo, de mente, de deus, de mundo, de tempo, de causa, de essência… Só momentos destes nos permitem reavaliar uma qualquer palavra, íntima, nativa, constante, que até aí parecia inalterável. No resto das nossas vidas, tal extremo não se aplica: vamos usando as palavras sem pensar nelas, deixamo-las assumir valores enquanto não nos apercebermos disso, enquanto não nos queixamos, porque não nos danificam de modo explícito . E é tão difícil desaprendê-las, apagá-las de raiz... Você imagina o que aconteceria se nenhum de nós tivesse mais vocabulário? Nem pressupostos, nem ideias definidas. Ora imagine:
se pudéssemos, como no início, em estado de criança,
seguir apenas o que gostamos, e rejeitar o que não,
e não saber de culpa ou egoísmo,
de injustiça ou calamidade,
nem de nenhuma coisa que quiséssemos mostrar aos outros
porque dela queremos convencer-nos nós mesmos.
Imagine: se eu não tivesse palavras para o que desejo,
nem palavras para aquilo que sou se o desejo,
será que eu teria medo de desejar? Querer? Escolher?
Eu gostaria de ter uma brincadeira de crianças consigo,
e é-me difícil, e talvez eu não o deva —
porque sou médico, estou aqui numa posição.
Mas se eu me permitir esquecer isso,
esquecer o que “deveria” estar a fazer aqui, sugiro-lhe:
gostaria de ter uma brincadeira consigo próprio,
mais aberta à experimentação do que à argumentação?
— De bom grado o faço...
Mas sei que ao fim de tudo, qualquer coisa
que eu imagine comigo não deixará de ser apenas
uma mera fantasia minha.
— Ah, não estamos aqui se não para isso... Fantasias outras,
vastas, dispersas, além da obsessão que tem tido até ao momento.
O contrário seria ninguém estar permitido a existir ou
a ser o que seja se não por continuação forçada
do que tem sido até agora. Permita-se essa espontaneidade.
Sugiro-lhe este jogo: experimente por uma semana fazer
tudo o que gostaria mesmo de fazer, ignorando essa voz
interna que o danifica. Seja uma criança: uma
que durante uma semana inteira não tem os pais por perto.
— E se eu me quiser de facto matar,
se acaso for isso que eu quero realmente fazer?
— Se o fizer, ficarei feliz se o tiver feito (se me permite
assim dizê-lo) como uma criança: como quem diz Sim! —
sem vocabulário, apenas imaginação, e aroma, e fantasia;
não como quem o faz porque precisa de dizer "Não"
a uma voz interna qualquer.
— Talvez o faça. Ou talvez não conseguisse;
sei que você estará a pensar em mim, o que talvez
me intimide. Se a tal voz não estiver na minha mente,
estará você, e a sua... Isso vai causar-me
alguma pressão, algum peso.
— Talvez isso me agradasse… Mas não neste caso…
Se isto o deixar mais confortável,
podemos desmarcar as nossas próximas sessões.
Oiça: façamos como se nunca nos tivéssemos conhecido;
eu não quero criar nenhuma expectativa sobre si,
seja para viver ou para morrer. Apesar de mim, além de mim.
Se um dia você de novo me contactar,
conhecê-lo-ei como em primeira vez. Como quem nunca o viu.
E nesse caso, você nunca chegará atrasado.
— Oh, isto parece-me louco, não sei se consigo...
Não sei o que me passará pela cabeça quando sair daqui para a rua.
— O que quer que faça, não o faça por mim.
Esqueça-se de mim, peço-lhe. O que você decidir fazer, seja para si.
Numa liberdade anónima, absoluta…
— Tentarei. Mas não prometo. Não sei se consigo,
por favor não tenha expectativas…
— Não tenho.
São horas. Adeus.
-> conversas com médico: 3/4
troco
ela deu-me: 2,60 € — ora bem, 2,60€
em quatro moedas:
1€ 1€ o,50€ o,10€ .
não sei se ela quis dizer quatro coisas distintas:
— 1€ simpatia
— 1€ favor
— o,50€ limpeza
— o,10€ porque se lembrará de mim.
Na mão, isto dá
2 moedas grandes 1 média 1 pequena
para 2,60 € também poderia ser
1 grande 1 média 1 pequena ou
1 grande 3 pequenas
haverá diferença? exato seria: 260 moedas de o,01 €
unidade de cada coisa que se aprova.
Pode-se resumir para facilitar?
não discutas. não é quantia o que interessa, é
a mensagem. Ela quis dar um valor e deu.
Mas ainda assim, ela teve de o dividir.
As moedas vêm às partes — sinto-as na mão:
1 grande, 1 grande, 1 média, 1 pequena
será que minha simpatia foi só o,70 € desta moeda?
se sim, restante o,30 € foi para quê?
deu para tudo? foi exato o que ela quer?
ou só dividiu assim porque não tinha outro?
será que analisou o valor?
cada o,10 € da vida dela vale-lhe o quê?
acabou, fechou? foi matemático?
ou arrependeu-se e não compensa exigir de volta?
nesse caso, o que foi pago?
Há um resto, há um troco?
Se ela veio aqui para ter uma coisa
e a pediu e aqui esteve, será que o tempo que ela aqui esteve
correspondeu ao que ela queria quando pediu?
Há algo que eu fique a dever ou a roubar ?
Algo que ainda valha a pena perder minutos do meu tempo,
dos o,10€ meu tempo
a ponderar, a recapitular, a incluir ?
provocação
— É verdade que não consegues mexer a mão?
pergunta o rapaz,
— nem o braço, nem as pernas, nem os pés?
Ha! É tão fácil, olha aqui!
Assim disse o rapaz. Tão naturalmente.
Mas claro.
Ele só pode perguntá-lo naturalmente.
É-lhe natural, é-lhe instintivo.
Portanto, claro que é fácil para ele.
Ele não sabe como isso acontece — mexer a mão, mexer o braço,
mexer a boca — apenas sabe que acontece.
Daí que seja fácil.
Difícil, o verdadeiramente difícil, é saber como isso acontece:
como acontece, quando acontece, e porquê.
E também saber o oposto:
quando não acontece, como não, e porque não.
Não sabes como ter um metro e sessenta?
Ou ter olhos verdes, ou o cabelo encaracolado?
Olha aqui, basta olhar para mim!
A facilidade primordial de todas as coisas é assim:
faz-se sem saber como, simplesmente.
A facilidade está precisamente em não saber
como. No fundo, é o mesmo que dizer:
algo que nos permite não ter de saber para
conseguir fazer. E também: algo que não nos permite
saber como deixar de fazer.
Sabes, rapaz, eu também não consigo evitá-lo,
— não consigo evitar fazer o que seja —
porque não consigo fazê-lo.
Mas eu sei isso:
sei que não sei como se fazem as coisas.
Tu fazes: mexes os braços, e as pernas, e os pés,
e por isso pensas que sabes como se faz,
como se tivesses sido tu a decidir como fazê-lo.
Mas não decidiste.
É essa a diferença entre nós.
Ambos não sabemos como se fazem as coisas:
— e eu sei que não sei como;
— e tu não sabes que não sabes como.
Isso diz muito sobre aquilo em que se acredita.
De qualquer modo, isto pouco tem de admirável.
Admirável seria talvez o oposto:
decidir fazer o que não se consegue. E também:
decidir não fazer só porque se consegue.
A não ser que no fundo seja injusto
e cruel não descobrir, nem admirar,
a sua própria natureza.
Não interessa.
Eu não me ofendo quando gozas assim comigo,
rapaz. Se eu quisesse, poderia refilar contigo —
poderia, mas não quero.
Não quero.
Porque em todo o caso é bom não termos de saber
o como de certas coisas: é bom que não tenhamos
de fazer a prova, porque talvez nenhum de nós
quereria ter de saber como tudo funciona
antes de mexer sequer.
O que é, claro, uma bênção, uma leveza,
e uma oportunidade para a arrogância.
Por isso, apesar disso,
prefiro desfrutar esses teus olhos verdes,
esse teu sorriso encaracolado,
esse teu 1.6m,
e ficar feliz por não termos de saber o como
em relação a tudo.
Precisamente por isso:
por eu não saber,
e tu não saberes,
como.
transgressão
Quem o tenha visto pensou:
ele estava com ela,
e acariciou-a,
e foi bonito…
e talvez não queiram saber quem é ela
ou quem eu sou, a não ser pelo facto de as carnes
dizerem— eu-macho, ela-fêmea — e
se estamos juntos, é para cumprir
anatomia.
têm avanço; sabem mais do que eu,
que ainda mal decidi pousar-lhe a mão,
nem sei com que carga de masculino
uso o músculo da curiosidade.
Eles dirão talvez: tudo o que faças
é aquilo que qualquer rapaz da tua idade
iria fazer; era sabido, está na tua natureza.
como se eles soubessem certamente
que movimentos do corpo são estandarte
da natureza ou não. Se alguém
que pelo sabor mórbido de uma violência
faz um mal, e o aprecia, fá-lo por querer
fugir à sua natureza, ou fá-lo afinal seguindo,
e sem saber que cumpre, a natureza?
porque todo aquele que escolhe abrir
um destino novo, um destino outro,
como quem olha o universo e se esqueceu
do que tinha aqui vindo fazer,
no fundo está a seguir o quê? Que previsão
segue, se não a do seu próprio risco?
Ou então, talvez todas as decisões sejam
naturais: talvez seja fundo à natureza ela
querer fugir de si mesma, como é normal
aos jovens fugir do tédio e aos deprimidos
fugir da vida. Da minha parte,
não sei dizer
se faço o que faço obedecendo à
fisiologia. O que pode o meu braço fazer
que eu não aprove, se ele vai à frente e eu,
seguindo-o, ratifico? Se eu tocar nesta pele
como quem testa o atrito de um material,
sugando-lhe a carne por um momento, ou
analisando apertos que um órgão permite
até se sentir ofendido ou amedrontado,
que fisiologia é essa, quem me comanda?
se eu afagasse outro rapaz,
ou outra criatura muito diferente de mim,
na idade, na espécie, na forma,
aí sim diriam: estou a transgredir,
a fazer mal, a desproceder.
É o estranho privilégio — e também martírio —
de quem ama simplesmente aquilo que ama,
seja o que for, amando o que os outros
não compreendem, ainda que nesse amor
não haja se não um aceitar humilde,
um anuir ao que lhe convida a natureza,
e não uma vontade de desproceder ou transgredir.
Talvez eu queira
com igual excitação investigar
um objeto: uma pedra, uma fenda, uma árvore,
os recantos, recônditos, sinuosidades que há
lá dentro, ou beijar em total segredo algo tão
pouco secreto como um lugar, um rio, uma ponte,
ou talvez uma brisa, uma sombra, uma miragem —
aliás: algo que se move, que categoria tem? —
talvez seja um achado, um prémio às
habilidades do descobrir, com tempo,
com garra, com as formas que a natureza
me deu para analisar morfologias.
Mas curiosamente,
por mais que eu queira, ninguém me julga;
porque eles não sabem que sou secreto,
e aos olhos deles não posso transgredir,
pelo menos quando estou com ela
e a acaricio com curva e com carinho:
sou já aprovado por todos os que
fariam o mesmo, porque o pensam assim.
É o meu martírio: Não posso fazer coisas
que eles desaprovem se for parecido
com o que eles apreciam.
Não dá contraste, eles não entendem.
Talvez nem eles saibam quando transgridem
se, olhando em volta, todos fazem o mesmo.
Porque inocente é copiar: sem saber porquê
nem ter o verdadeiro motivo. De tal modo que
transgredir é fazermos todos o mesmo:
aquilo que todos pensam que tem mal nenhum,
porque ninguém discorda. Porque entretanto, se eu
quiser discordar, tenho de ter a coragem de ser
eu errado,
fazendo algo mais contrastante do que só
acariciar uma orelha de menina,
mesmo que eu só isso quisesse,
seguindo esta ou qual natureza,
perguntando o porquê de tudo o que mexe
sem fazer critérios, diferenças…
porque no fundo, para todo o gesto que destoa
com o envolvente, não há verdadeira transgressão,
todo o que avança é aquele que precisa e
perfura a pequena diferença entre si e mundo,
e porque precisa, não se pergunta se pode;
e porque o liberta, é natureza,
é sucesso da anatomia.
E eu toquei-lhe, e ela pensa que sabe
porquê; e por momentos eu mesmo
penso que foi mesmo só isso. E ainda assim,
não lhe vou dizer; e eu não me vou dizer.
Porque dentro de mim há uma parte
com ânsia ainda, com perguntas outras
que ainda não fiz, e que repousam no minúsculo:
e essa parte de mim, tendo medo delas,
prefere não saber disso.
E eu gosto disso.
quero contar-te uma coisa
Quero contar-te aqui uma coisa, por escrito.
Mas na verdade, sei que não vais acreditar.
Poderias imaginá-lo, no abstrato, mas apenas isso.
Dificilmente acreditarás deveras em algo de que possas ler
sem nunca o ter visto. Ver, no fundo, é mais importante.
Ver é o que nos oferece aquilo que depois se imagina.
De modo que imaginas asas porque as viste,
e guerras porque as viste, e cores porque as viste.
Eu sei que, por isso, nada do que eu diga
te parecerá verosímil se não coincidir com algo
que tu já tenhas visto.
E isto será estranho, se te estou a contar uma coisa
que não é tua, mas minha.
Mas é essa a natureza de toda a lógica:
é lógica quando copia a memória.
Não há nada mais além disso:
nenhum pensamento sem base evidente,
nenhum vocabulário de palavras outras.
E isto é um paradoxo, se de certo modo
apenas acreditamos no pouco que vivemos:
um processo de generalização com que forçamos
um catálogo privado a tudo o que possa existir.
No futuro nada pode, na verdade, ser lógico:
nada pode fazer sentido, porque nada foi ainda visto.
O que, talvez, faça da imaginação uma atividade
mais plausível.
Na verdade, nenhuma história é interessante
se não introduzir pelo menos uma coisa não antes vista.
Caso contrário, não seduz, não requisita
uma categoria especial na memória.
A História, no fundo, não é mais do que histórias:
contamo-la a nós mesmos retirando o que nos aborrece,
adicionando o que nela pudesse ser raro ou incrível.
O que tem menos a ver com verdade e mais com fantasia.
Não é por mal. Não é por bem. É mecânico, inevitável:
qualquer história é o registo da surpresa.
Daquilo que, não visto, cria nova categoria.
Talvez quem faça História
(digo, quem faz algo que fica registado na História)
vive um prazer muito íntimo, irrepetível:
o prazer do secretismo — o de planear agora
aquilo que ninguém pensava ainda ser possível.
Como a criança, ou o adulto, que se excita
ao pensar na nova ideia com que gostaria de impressionar.
O que de certo modo indica que a História será sempre
uma coisa apta a horrorizar-nos, a impressionar-nos.
Quero contar-te uma coisa.
Mas ah, sei não acreditarias...
E não sei se mais vale que ela seja verdade ou
que no fundo não exista. Talvez deva ficar assim.
É isso. Ficamos assim. Eu sei o que sei;
tu o que sabes. E a utilidade disto,
de eu não o dizer e de tu não o saberes,
é que, talvez, fiques sabendo que não sabes,
e que aquilo de que falamos poderia ser
qualquer coisa,
qualquer coisa que pudesses imaginar,
e que nessas coisas que consigas imaginar
— por prazer, por desafio, por devaneio —
há algo de surreal e ao mesmo tempo de admissível.
Imaginação apenas, claro.
manifesto da anatomia
Ele tem os braços pequenos. Não é defeito.
Sou fascinado com a beleza daqueles braços curtos.
Foi precisamente isso o que me convenceu. Não quando o vi caminhar na rua;
foi, antes, quando o vi usar os braços.
Assim:
a pegar na trave, a agarrar nela com palma dura,
a elevar o corpo com a agilidade de quem tem pernas outras em vez de braços.
Com eles, ele faz assombrosos malabarismos,
muda o referencial das coisas, torna geográficos novos ângulos de pegar e envolver.
Antes, eu deixava-me facilmente fascinar por braços esbeltos e delicados:
braços a escrever em cadernos,
a ajeitar os óculos,
a abanar o cigarro.
Agora, essa beleza parece-me parca, como se ela fosse a promessa de uma habilidade vulgar ou uma que afinal não existe.
Que tipo de promessa é a forma de um músculo? De uma articulação? De uma textura de pele?
Se promessa tem a ver com sugerir e cumprir, já não sei o que é beleza;
sei que aqueles braços dele, feios, curtos, ásperos,
são de uma beleza incrível.
Mas só agora o sei; agora,
porque a habilidade dele era de uma promessa imprevisível.
categorias do destino
{ Não vale a pena procurar mais. Tenho de aceitar: perdi o telemóvel.
{ Mas não pode ser que eu ande sempre a perder telemóveis... Estou tão cansado disto... De perder coisas essenciais. Ninguém perde assim coisas essenciais como eu. Sou um menino mimado e distraído, sempre a perder coisas que custam dinheiro.
{ Ou talvez não, talvez eu não precise de ser assim tão exigente comigo. O telemóvel não é uma coisa essencial. É normal perder um objeto uma vez por outra. Como quem perde clipes ou rebuçados. Perco coisas como toda a gente as perde.
Para onde é que eu ia? Já nem sei. Seja, por ali.
Será que a pastelaria ainda está aberta?
{ Mas um telemóvel é mais importante do que um simples clipe. Não é uma coisa que se descarta todos os dias por descaso; não é coisa que eu ofereça só porque alguém não trouxe. Quem oferece clipes tem alguns, uns quantos, e não se importa de dar. Um telemóvel é mais do que isso; mesmo quem oferece clipes tem um cuidado diferente — e mais sério — com telemóveis.
{ Um telemóvel é uma daquelas coisas que ninguém perde: mas ainda assim acontece por vezes, do mesmo modo que por vezes alguém perde uma coisa importante — uma chave, um documento — sem precisar de se considerar um falhanço por disso. Perder um filho: também é horrível, também é uma coisa de importância primeira, e contudo se acontece não faz sentido recriminar quem cometeu a falha, essa perda é em si castigo suficiente. Castigo? Mas porquê castigo? Poder-se-á na verdade controlar tudo aquilo que acontece, de modo que nunca nada se perca? Pára com isto. Não vale a pena ir para casa a pensar no assunto. Foi um incidente.
{ Talvez possa chegar a casa e dizer-me assim: perdi o telemóvel, é dessas coisas que toda a gente perde uma vez na vida, pronto. De modo que perdê-lo é possível, apesar do prejuízo, como uma daquelas tragédias que acontecem muito raramente, como partir uma perna ou haver um incêndio em casa.
{ Mas não, isso seria muito. Um telemóvel não vale tanto, nem é já feito para durar assim tantos anos. Seria mísero eu dizer que perco telemóveis como quem perde coisas essenciais, seria uma comparação superficial e insípida.
Boa tarde, como está? Ontem não o vi por aqui.
Sim... Sim, de facto. Mas hoje não é o melhor dia para dar um passeio...
{ Mas o telemóvel faz-me falta. Dava-me mesmo jeito, era-me tão prático. O facto de não o ter aqui e isso não parecer trágico indica muito pouco do que estou deveras a sentir. Talvez eu devesse procurá-lo mais uma vez, e mais uma vez. E posso nunca encontrá-lo, mas ao menos insisto no facto de ele me ser importante. Não foi por luxo que o perdi; simplesmente, não fiz de propósito, não fiz... Será que não o ter agora indica que não dou valor às coisas?
Fique com o troco. Boa tarde
{ Ou será que estou a ser deprimente ao chorar assim tanto por um objeto, um simples objeto? Há mil coisas tão mais importantes do que um telemóvel, e um telemóvel até se substitui facilmente com outro... Ou será que, no fundo, materialismo é precisamente isso, usar e comprar tão livremente, como se os recursos do mundo fossem eternos e abundantes?
{ Será que eu serei simplesmente superficial ao comprar outro telemóvel, e já de seguida? Significa isso que eu sou compulsivo? Que sou ingrato? Eu sei o valor das coisas, sei o quanto elas custam. Custasse o que custou, é valor que me mereceu atenção; não o comprei só por comprar, como quem não tem nada mais para fazer... E se hoje eu for comprar outro telemóvel isso não significa que vá comprar outro amanhã se por alguma coincidência o perder de novo.
{ Iria?
Desculpe, não o vi aproximar-se.
Não, culpa minha, eu é que estava a olhar para o chão.
{ Se disser a alguém que perdi o telemóvel, devo fazê-lo como quem lamenta, ou como quem já ultrapassou? Como quem não se importa? Como quem sente nostalgia? É coisa que mereça um abraço? Ou reprimenda? Não quero perder-me em tristezas do passado, do passado recente, embora ele me desse jeito. Embora não valha assim tanto. Embora como material caro mereça o seu apreço. Embora os materiais sejam uma coisa secundária.
{ Será que outra pessoa qualquer já teria parado de pensar nisto?
Boa tarde, como está?
{ Compro um novo como quem procura outro para esconder o que perdeu? Como quem sabe que no futuro vai saber lidar melhor em situações assim? Ainda estou na idade de me considerar "a aprender"? Ainda poderei dizer a mim próprio que nada disto merece remorso nem castigo, porque no fundo a vida é uma longa aprendizagem? Se assim for, a partir de quando não poderei usar mais esta desculpa? E se eu cometer algo mais grave por acidente, aplica-se o mesmo? E se afinal eu estou a aprender, continuo a poder usufruir do estatuto de adulto?
{ Posso decidir por mim mesmo o que isso significa? Qual a gravidade de perder um telemóvel? O que diz isto de mim? Será que sou um materialista supérfluo? Será que isso é problema parco no meio de outros mais importantes? É erro indesculpável a quem se organiza? É prejuízo que não implica reconhecimento? Ou será que sou apenas um maluco a procurar desculpas para um erro?
{ Estou cansado... Posso assumir isso, pelo menos? Estou cansado...
{ Já não tenho o telemóvel. Perdi-o.
conversas com médico (3/4)
É claro que as pessoas felizes não precisam de justificação para o facto de serem felizes; daí que seja mais difícil para uma pessoa feliz ponderar estar errada... Por favor, entenda:
eu não quero sugerir que você está errado só porque se encontra infeliz. Assim como eu não quero sugerir que estou certo porque não estou infeliz; aquilo que terapeuticamente se designa por "paciente".
Ah, agradeço a sua simpatia... Sei que em todo o caso ela só prova o quanto o senhor merece o lugar de terapeuta. É uma pessoa feliz, teve sucesso no seu destino. Eu em pouco ou nada mereço o meu lugar de paciente.
Ah, não merece? O que você diz é já um sinal de que merece a terapia. Ou até: de que precisa dela. A falta de uma capacidade simples de pedir ajuda indica uma certa limitação. Num universo complexo como o nosso, a atitude mais hábil e potenciadora é a capacidade da negociação… De gerir o que dar, e o que receber… Se posso dizê-lo, o dia em que você deixar de se sentir embaraçado, o dia em que não mais tiver de pedir desculpas por estar a exigir o meu trabalho, será um dia importante para si.
Sei o que você quer dizer. Se eu um dia me mostrar mais egoísta, isso quererá dizer que estou melhor de saúde mental.
Eu não lhe chamaria egoísmo. Se você está aqui na condição de quem precisa de ajuda, é necessário que você aceite ter o direito a ser ajudado. Você anseia pelo dia em que não mais precise de ser ajudado. Em última instância, você é o senhor de si mesmo; isso tem menos a ver com uma necessidade de terapia e mais a ver com o direito de ser íntegro, egoísta, ingénuo ou até equivocado. Qual é o seu medo? Que eu o desaprove? Que eu o veja como um pobre miserável ao ponto de você querer desistir desta terapia ou achar que não a merece? E se assim fosse, qual o problema? O que o assustaria nisso? Se me permite, não é a terapia o que o assusta. É a minha opinião. A sua tendência em colocar-se num lugar inferior, com medo de uma opinião que lhe pareça mais importante do que a sua. Mais forte. Ou: mais ameaçadora. Você tem medo de alguém olhar para si de cima e o achar ínfimo, cego, medíocre, inferior. Porque algo em si ganhou um medo terrível do conflito, a ponto de pensar que qualquer desentendimento entre nós os dois implica uma humilhação para si. Porque de duas pessoas em desacordo, provavelmente uma delas estará errada — e você está habituado a ser tratado como errado. Mas sabe,
não me assusta que você tenha uma opinião que eu não entenda. Apenas me assustaria que você só tivesse opiniões que eu entenda.
Mas oiça, perceba o meu lado: eu vim aqui para me questionar a mim mesmo, não para reforçar padrões que em mim já existam. A arrogância é uma repetitividade, é a ilusão de permanecer pertinente por defeito. De certo modo, é uma cegueira da desatualização. Eu não quero ficar mais cego. Isso eu já estou... Vim aqui para ganhar um pouco mais de clarividência.
Mas parte dessa clarividência você já tem. Os seus problemas são outros. Aliás, até lhe posso dizer: a sua extrema auto-crítica indica claramente que esse é um problema seu. Uma extrema tendência para a auto-crítica e um medo de criticar os outros. Porque quando você se sente a influenciar os outros, sente-se igual a eles — igual a todos esses ínfimos seres humanos que se enganam, se desgastam, se mutilam. De facto, os nossos assuntos psicológicos resultam maioritariamente em duas categorias de comportamentos: comportamentos que prejudicam os outros, ou comportamentos que nos prejudicam a nós mesmos. Você tem sintomas claros de um distúrbio de quem se prejudica a si mesmo, e por isso são-lhe tão incómodas (ou mesmo assustadoras) as pessoas cujos comportamentos prejudicam os outros. Mas veja, todos nós assimilamos os comportamentos vindos de todas as direções. Do que se deve fazer, do que não se deve fazer... Nem mesmo o egoísmo é necessariamente uma coisa má ou inútil. Tanto nos é inspiradora uma pessoa com admirável capacidade de valorizar os outros, como uma pessoa com admirável capacidade de se aceitar a si mesma. Quanto a si,
uma atitude sua nunca será inspiradora ou incomodativa para os outros se não experimentar esse risco. De facto, num mundo onde todas as pessoas pensassem o mesmo, não haveria discórdia, não haveria conflitos, não haveria guerra. Aparentemente ninguém seria posto de lado porque ninguém estaria errado,
porque ninguém pensaria de modo diferente. Num tal mundo,
não existe sequer ditadura, porque a concórdia é instintiva.
Isso é de certo modo o paraíso: a concórdia absoluta:
algo que nos impeça de saber quantos dos nossos desejos
correspondem à verdade ou à unanimidade do erro. Porque
se não houver ninguém que nos contrarie, podemos ter essa
permissão surreal de a verdade corresponder tão
automaticamente aos nossos caprichos. Só na presença
de alguém com outros desejos, ou ideias outras,
a dúvida acerca da verdade das coisas aparece.
O que decerto faz inimigas todas essas pessoas que,
trazendo a exceção, nos questionam a universalidade.
Você tem medo de ser a pessoa que traz o diferente, porque tem medo de ser atacado. Mas veja, estamos aqui os dois nesta conversa e ainda não entrámos em conflito. E hoje, mais do que naquele primeiro dia, você sabe que me pode dizer tudo o que pensa sem medo de eu não compreender. Aliás, se eu não compreender, isso é problema meu. Mas a minha função é compreender. Caso contrário não serei hábil de lhe fazer um diagnóstico. Quero pedir-lhe uma coisa: você conseguiria contar-me, como na primeira sessão, tudo o que o trouxe aqui? Descreva-me tudo como no primeiro dia — mas desta vez, falando abertamente, sem insegurança. Sem medo de eu não o compreender
Como assim? Repetir tudo? Está a falar a sério?
Por favor.
Mas você já sabe...
Por favor, peço-lhe.
Eu já não me lembro. Eu... Eu sofro de… Eu tenho um transtorno obsessivo-compulsivo.
Sim, isso é o seu diagnóstico. Mas conte-me porquê. Descreva.
Sabe, por vezes... Por vezes, muitas vezes, tenho desejos que não entendo. Desejos incontroláveis de me magoar: mutilar, cortar, asfixiar, esquartejar, espetar, dilacerar. Desejos de me deixar atropelar, entalar, queimar, esmagar, decepar. Por vezes é tão intenso que sou incapaz de fazer outra coisa nesse momento, e este estado pode durar alguns minutos ou várias horas, por vezes dias inteiros. Não sou eu que controlo esse estado: ele vai e vem seu eu saber como. Quando ele subitamente vai embora e eu ganho consciência de mim, entro em pânico porque vejo claramente que estive preso numa espiral de pensamento macabra, perigosa, e eu não tive nenhum poder sobre ela. Quando isto aparece, domina-me. E pior, apercebo-me de que não sei sequer como sair dessa prisão dos pensamentos: apenas sei que tudo se foi embora quando simplesmente se foi embora. Mas quando estou lá dentro, com o corpo congelado porque a mente me está a pedir para me espetar com uma agulha ou uma navalha, sei que não sei como fugir, a parte que me pede violência é mais forte do que a que não a quer: entro ao colapso, caio no chão, não consigo mexer-me... Tenho medo de me levantar porque sinto que se me levantar os músculos vão agir, vou mesmo matar-me, vou mesmo seguir esses pensamentos que me ganham. Não compreendo por que razão isto acontece; eu não era assim, acredite: e não sou assim, eu não aprovo estas coisas...
Não: não fale assim. Não me dê desculpas. Você não tem de pedir desculpas pelo que sente. Continue.
… Eu não tenho desejo de fazer qualquer destas coisas. E se algum dia as quiser fazer, espero fazê-las porque quero, se por acaso assim o quiser. Mas isto não se passa assim, é na verdade o oposto: eu não quero, mas sou preso na minha mente contra minha vontade, o que me apavora, exaspera-me, deixa-me à beira do horror. Neste momento, enquanto digo isto, imagino-me a enfiar esta caneta pela sua goela adentro. Ou a saltar por essa janela e estatelar-me lá em baixo. Tenho o desejo odioso de você ficar embasbacado com o seu homicídio ou com o meu suicídio. O facto de estar a partilhar estas coisas só acentua o desejo de lhe fazer mal. Não sei porquê. É como se eu tivesse uma dupla personalidade. Metade de mim quer estar aqui a falar consigo; mas a outra é sinistra e oculta, como um adolescente rebelde que conspira em segredo, e essa metade manda-me olhar para o lado e imaginar as coisas mais macabras, mais perturbadoras; e se eu tento não pensar nela, começo a sentir uma estranha sensação de pânico, como se essa outra metade encostasse uma arma na minha nuca e dissesse:
vais fazer o que eu te digo.
Quando isto acontece, já não sei bem quem sou. Tremo porque não quero fazer aquilo que a mente me pede, e tremo porque não sou capaz de a calar… E... Não sei... Não me compreendo...
Quero fazer um jogo consigo. Vê aqui este pisa-papéis? Atire-o contra aquela janela. Sim, este objeto aqui. Vá, não tenha medo.
Você goza comigo. Sabe que não o vou fazer. Faz parte do meu diagnóstico. Eu imagino essas coisas, mas não as quero fazer.
Imagine pelo menos. Por favor. Descreva-me como seria.
Eu atiraria isto contra a janela; isto partiria o viro e cairia lá fora. Talvez magoasse alguém na estrada. Talvez não. A parte dos vidros a partir seria engraçada; a ideia do perigo, excitante. … Mas ah, lamento: isto não se compara com os meus impulsos. Eu precisaria de qualquer coisa mais perigosa do que um pisa-papéis. Não tem o sangue. Não tem aquele impacto do verdadeiramente abominável. Algo verdadeiramente macabro, asqueroso, entende? Algo que nem eu próprio imaginasse possível. Algo que fizesse o senhor odiar-me e colocar-me na prisão. Algo que me fizesse nunca mais poder viver em sociedade. Ou até mais: algo que me fizesse nunca mais poder viver comigo mesmo. Sei que nada disto faz sentido... Sinto-me como uma criança.
Muito pelo contrário. Você claramente não é uma criança, o que é bom, mas é uma pena... Neste momento, uma criança saudável estaria a imaginar mil experiências diferentes de partir este vidro, e provavelmente estaria disposta a experimentá-las. Pouco importa o preço ou o estatuto que os “adultos” lhe dão. Quando quer destruir regras, uma criança nunca é auto destrutiva. Para quê? Há tanta coisa no mundo que se pode destruir... Isso é catálogo suficiente, e se for divertido tanto melhor para um dia bem passado. No fundo, a monotonia é o único fenómeno que não compensa. Se me permite dizê-lo, a grande diferença entre você e uma criança é você já não estar disposto a quebrar regras. Não partiria este vidro porque lhe custaria na carteira. Não me espetaria esta caneta porque isso colocá-lo-ia em tribunal. E você não quereria que o seguro de saúde deixasse de pagar a terapia. Há uma série extensa de motivos que o prendem a esta cadeira aborrecida neste dia monótono. Mas algo em si não está completamente satisfeito com este facto: talvez porque a terapia demora tempo e a vida continua igual, talvez porque você já perdeu a esperança de ser uma nova pessoa… Tendo isto como base, talvez não seja incoerente dizer:
a única coisa que te resta é destruíres-te a ti mesmo.
Só isso oferece saída quando não se pode quebrar mais nenhuma regra. De uma lista de possibilidades que se oferecem a um indivíduo, a do desespero não tarda em aparecer, se acaso todos os outros tópicos são rasurados por falta de coragem. Na verdade, neste instante nem sequer o ato de partir esta janela resolveria o problema; eu sei-o, porque lho pedi,
Como assim?
porque lho pedi. No seu íntimo há um desejo de discórdia em relação a todo o universo, eu incluído. Mas há um problema: entre si e o universo, você decidiu que o universo é que ganha: que você vai perder seja de que modo for. Por isso, a única solução que resta é você destruir-se a si mesmo.
Mas se é isso que se passa, porque não me destruo deveras?
Só metade de si tem vontade de desistir. A outra não. Se duas metades de si querem viver, você é feliz; se duas querem desistir, você mata-se. Se uma quer viver e a outra não, como resolver? Essa loucura eterna. … O que foi? Está a chorar?
Estou triste. Estou triste por tudo isto ser tão difícil. Levantar uma simples caneca… Para as pessoas normais — digo, não pessoas “normais”, mas outras pessoas — é tão fácil... Todas elas têm mil meios de sofrer frustração sem cair no lodo deste modo… Tudo o que de mais ínfimo me acontece deixa-me logo de rastos, a este ponto: ou quero viver intensamente ou desejo morrer como se nunca tivesse nascido... A ponto de todos os dias eu acordar sem ter tomado a decisão de viver e ir dormir pensando no suicídio de amanhã: e no entanto, todos os dias esta voz lembra-me dessa decisão: a de que é melhor eu matar-me hoje, agora, porque não tenho mais energia para estar vivo depois… Estou tão farto desta doença... Gostaria que ela nunca tivesse acontecido.
Tem certeza disso?
Como assim? Não entendo. Você está a gozar comigo? Vê vantagens nisto?
Não. Aliás, sim. Não. Sim? Você gostaria de ter mais resiliência? Eu entendo. A resiliência é uma força misteriosa e admirável. No seu extremo, é a capacidade que permite a uma criatura ficar eternamente enredada num estado em que se encontra. Se a debilidade que o destrói indica uma certa limitação sua, um limite, será no fundo o limite contra a insignificância — isto é, a sua incapacidade de suportar por muito tempo uma vida sem sentido. Há pessoas que têm muito mais resiliência do que o senhor. Aliás, todos nós temos de modos diferentes e por períodos diferentes essa capacidade para suportar excessos de tempo sem significado. É o que permite às sociedades perpetuar situações prolongadas de opressão sem que haja uma verdadeira revolta. As pessoas são resilientes, mantêm-se capazes num contexto sem sentido. Não quero com isto dizer que a resiliência é um erro. É um recurso importante. Sem ela não haveria ciência nem arte. Nem sequer maternidade. A resiliência é o que falta às crianças quando precisam urgentemente do "agora" sem perceber que um chocolate virá, mas só daqui a dez minutos. É aquilo que permite aos adultos alcançar projetos que raramente pareceriam possíveis. No seu máximo, a resiliência é o que permite a uma pessoa ser feliz sacrificando-se em prol de uma hipotética recompensa, chegando a morrer sem saber se ela existia. No seu mínimo, é o limite que faz o adolescente não ser capaz de se esforçar numa tarefa se isso não lhe der desde já um prazer correspondente. Ambas têm a sua pertinência. E contudo, se você desabar no pior dos desfalecimentos durante esta terapia, honestamente, eu ficarei agradado. Não por você não ser resiliente: muito pelo contrário, por você ter tentado sê-lo por muito tempo e agora decidir que foi de mais. A tal ponto que já não mais lhe restam caprichos de criança. Entenda-me: você pode ser resiliente em relação a tudo o que você queira. Só o senhor sabe os empenhos que valem a pena na sua vida. Mas se a sua resiliência lhe tiver sido forçada pela circunstância, pelo hábito, por algum tipo de pressão externa (ou mesmo por uma ilusão interna), então desejo honestamente que consiga quebrá-la. Não a quebrar revela, de certo modo, uma vantagem ambígua da saúde: a de conseguir viver por muito tempo uma vida vazia sem sentir o desespero necessário para questioná-la. Lá fora passam as inúmeras pessoas resilientes que nunca chegaram a entrar aqui para fazer qualquer tipo de terapia. Eu não as invejo. Você não deveria invejá-las. Desculpe, lamento este devaneio. Falei de mais. O protagonismo aqui é seu.
E se eu não o quiser?
Não tem alternativa. A sua mente é o nosso espaço de trabalho, ela é quem deve manifestar-se. ... O que se passa? Consigo ver algo na sua cara… São os pensamentos: eles voltaram? Estão fortes na sua cabeça?
... ... Sim...
Eu sei. Consigo ver na sua expressão. Pode chorar se quiser. Pode gritar gritar se quiser.
Não quero.
Pode magoar-me se quiser.
Não quero.
Experimente. Por favor. Eu convido-o. Eu assumo a responsabilidade.
Para que haveria eu de fazê-lo? Você sabe que eu não quero fazer isso; é uma obsessão minha, mas eu não quero...
O que sentiria o seu cérebro depois de o fazer? Sentir-se-ia satisfeito? Sentir-se-ia embaraçado? Tantas vezes a voz lhe diz para fazer algo… Que tal fazer a prova dos nove? Experimente dar-lhe ouvidos, só pela experiência. Para que você possa quebrar uma regra. Experimente. Faço-lhe este convite. Por favor, experimente. Pegue nessa caneta e espete-a na minha mão. Não se preocupe. Eu sou forte. Ou será que não?
Iria odiar-me se o fizesse.
Seja. Odeie-se por motivos outros. Só um pouco. Assim por exemplo, com a pontinha: espete aqui, só aqui. Só isso. Só um buraquinho, brusco. Mas faça força. Mais para trás, isso. Vá, força.
Eu não quero... Você está a pedir-me para agredi-lo...
Sim. Vá, não tenha medo. Seja uma criança. Pegue na caneta.
Na mão? Aqui?
Sim, aqui.
Vá, eu ajudo. Respire fundo. Um… dois... três!
!
Oh, desculpe!... Desculpe! Por favor, não sei o que fiz! Não sei o que me passou peça cabeça...
Não se justifique.
Mas eu magoei-o!
Sim, isto dói. Mas não faz mal…
Eu não queria! Olhe o sangue...
Então, corresponde ao que você queria?
Por favor, deixe-me limpar isso...
Está tudo bem. Oiça: está tudo bem.
A voz pediu, você aceitou. Leve isso consigo.
Vemo-nos na próxima semana.
-> conversas com médico: 4/4
verniz
O verniz fica bem. Verniz preto, papel branco. Preto, branco: o livro faz contraste. Preto unha, branco papel. Ou: amarelo, o papel é amarelo: é mais o contraste do que a pureza da cor. E também: letras pretas, ou quase pretas. Se em teoria o preto é mínimo e branco máximo, temos aqui toda a amplitude do mundo. Claro, aos olhos. Os olhos olham e vêm: letra escuro, branco claro, no maior contraste que imagine, está criado o extremo contraste, os maiores opostos tão perto de si. Registos do que o olho vê, à sua maneira. O papel e as letras não se acham nada de especial, comparando com as radiações do invisível.
Pintar as unhas: fica bonito, é decoração. Decorar: adicionar qualidade onde ela não atrapalha. Outra atenção que se dá ao elemento mesmo. O verniz na pele sai com o tempo: só se tatuagem ficaria. Salientar uma forma, as unhas, porque salientável: a unha é já de si coisa peculiar no corpo, destaque de lâmina limpa que se acha no dedo. Está no sítio certo, nas pontas: dá mais cor lá no limite da forma, onde o corpo também termina: onde mais se vê. Ou: dar aos dedos moldura. Personalidade dos extremos, como pétala no topo da flor ou coloração numa cauda. Salientar o delicado, porque o dedo é a parte mais delicada. Depois do braço, do pulso, da mão, o dedo: a parte mais fina da sequência.
As minhas unhas não são muito delicadas. Pelo menos esta, o polegar. É mais larga do que gostaria. Se com menos três milímetros, seria mais delicada? Talvez, Como faz alguém quando não gosta sua unha? Esconde? Altera?
Alterar: operação: cortar carne, limar excesso, diamante polido que se corta onde é preciso desde que no fim ainda una as veias: tem de ligar as veias como estava no início, para continuar a ser dedo. Para continuar vivo ele todo. Eu gostar de como sou: implica aceitar tudo como sou, ou aceitar pelo menos a maioria? Coisa que não gosto: vale a pena o custo da mudança? Operação, intervenção, medicina, recuperação, hospital, dinheiro, tempo. Tanta importância para pormenor de pouca quantia. O que vale ou não a pena, consultando o valor de importância? Entre o quase e o perfeito, entre o médio e aquilo de que gostaria: esse detalhe não, não vale a pena o trabalho.
Decorar: salientar. Saliento o que não me agrada, para escondê-lo, ou saliento o que me apraz? Decorar as unhas: não por serem esbeltas, mas por tê-las: degrau extra de consideração que se dá à forma. Partes melhores de meu corpo, decoro-as, valorizo-as, dou-lhes palco de protagonismo. Um aro à volta desta zona do pescoço; um batom-verniz no tendão lateral do joelho. Isso são partes que em mim gosto. Unhas, um pouco. Aquela unha ali ao lado, daquele fulano ali, ali ao fundo na janela: polegar que segura assunto, jornal ou copo: agrada ao dono? Tem que se lhe agrade tudo de si próprio? É atraente, ele todo. Mas aprecia tudo como se sim, aprovou toda a parte como a quer? Gostaria que osso da anca um pouco mais largo, ou um pouco menos? Se não, como aceita isso? Ou: porque funciona, chega? Funcionar não chega, para quem deseja: forma é mais que a função, é extra, mensagem maior ao só utensílio. Caso contrário não haveria maquilhagem. Se ele aprecia a si mesmo, se tira fotos e faz pintura de si, é porque se gosta por ele todo; ou ´é porque partes neutras se incluem no que não prejudica?
Dar-se ao trabalho de mudar: ter paciência para isso, tempo que exige, energia que requer. O que não se muda não é crucial, não tem importância. Numa vida eterna eu mudaria tudo o que quero, porque teria tempo? Ou talvez ainda assim não, porque não vale a pena, há mais que importe fazer com o calendário? Sorte de ser belo, ou paciência de aceitar o que não: prazos diferentes de calcular o que beneficia, o possível lucro e prejuízo. O lucro de ser belo: que coisas me facilita no mundo. E o oposto: ser menos belo, que aspetos prejudica. Sorte do instantâneo, essa sim, é bênção: sou assim porque o nasci, não tive de estar à espera. Toda necessária alteração é investimento, somatório, despesas de recurso face ao prazo do retorno.
Beleza e tempo. 5 minutos para pintar as unhas. Foi pouco? Foi muito? Chegou-me. A 10 metros de distância, é pormenor preto na ondulação das mãos. É o que chega. Nem sequer está perfeito, vendo de perto: mas de longe, é o que basta. Não planeio audiência muito perto, hoje. Ator em palco não tem sapato perfeito: só o que chega para parecer de longe. O mínimo rigor necessário face ao desperdício de pormenor. Verniz: o que baste, chegou, e o preto dá suficiente tom: suficiente contraste para servir efeito. Mancha que encosta e segura folha ao lado das letras, de igual tinta. Se demasiado grande ou não, o meu polegar, não sei. Tolero, enfim, está aqui, e não me valeria o trabalho de tentar ter outro. Pode quem aprecie. Por dentro funciona, agarra a página, sem saber sua própria medida, faz-me a função. E eu vejo por fora como decorativo, como unha que aconteceu, esta ou outra, uma que pousou aqui, numa página branca de livro.
tempo, contratempo
Há o vento a passar, há traço,
energia, o sol foge... uma sombra
vai e vem — foi rápido, é um adeus.
Estou quase a chegar, eu e a brisa —
os dois juntos, isso é bom;
e aqueles pássaros.
Há o trinco do portão — abre,
há um guincho, falta de óleo,
anuncia, anuncia-me. Portão que
vai e vem: fechadura que regressa
ao trinco, faz um "tric!" — e já está:
novo assunto.
Sou eu: faço o jardim,
adeus sol, até já. Faz calor:
não em casa — será fresco, e silêncio.
Os degraus, um, dois, três — e agora...
Onde está a chave? —
onde está; eu tinha aqui...
Eu tinha... não sei... O que se passa?
O pássaro voa; eu tinha chave. Espera,
pássaro; eu tinha aqui... O que faço?
O pássaro passou. Vou a tempo?
Interrompi. Interrompi. Volto atrás?
Sol, espera, fica aí. Só um instante...
Talvez eu devesse voltar, fazer tudo de novo.
Se eu voltar, as coisas esperam?
Mas que horas são? Ainda vou a tempo?
A porta está perra, não consigo... Preciso de sentar-me. Preciso...
A sombra passa por mim. Estou atrasado;
como é que eu posso entrar outra vez?
O pássaro vai longe. Está quase na nuvem. Talvez, quem sabe...
Talvez o ideal seja eu entrar quando o pássaro passa na nuvem. Ele vai:
passa o sol, há luz, é o ponto de entrar.
É esse o ponto?
Uma coisa é abrir o trinco
neste momento: quando aquela folha acabou de cair
Outra coisa é abrir cinco segundos depois,
quando a pessoa passou.
Ou quando o inseto fugiu.
Devo trancar a porta quando o pássaro passa,
ou quando a sombra inicia?
Não quero entrar antes demais, ou depois demais.
O pássaro está ali, eu aqui; quero deixar esse assunto encerrado antes de entrar.
Observa:
Entrar: fechou, já está, fecha-se coisa porque nova inicia;
outra frase do universo.
Assim se divide o mundo em coisas para fazer,
como em pontos de frase.
Como tudo o que começa > evolve > acaba —
sintaxe, ritmo das coisas, relevância que prossegue.
Tenho medo de cometer um erro... Um acidente.
Parece uma dislexia do tempo:
a porta abr-, abr-, abr-...
Não dá. É uma frase interrompida no universo.
Uma frase interrompida: um erro, um engodo. Um absurdo.
Frases absurdas, como estas:
O gato de ontem brincava por aqui, na estrada,
aquele que fugia de mim — veio aquilo e...
ou
Senhora, o seu bebé; derrame — inox? Detergente: limpa.
Que horas são?
O sol já se foi. Vou ficar.
O que dirá a Maura se me encontrar aqui?
Vai dizer: o que se passa outra vez?
Outra vez.
Desculpa...
Maura, desculpa... Não consigo evitar.
Pensa o que quiseres. Pensa o que quiseres, não me interessa.
Talvez possas até pensar, Maura, que um pensamento vem no tempo certo quando o tens, porque se o tens, é tempo disso.
Mas nem tu sabes o que vem cedo ou tarde para o que devia;
o momento certo de cada uma das coisas que se agendam na pertinência no universo.
Não é só a minha mente; é também a tua. A de toda a cabeça pensante. A cada segundo cada mente, não só o mundo, segue frases,
a cada instante há as coisas que orientam o sentido.
Fechar uma porta, chegar a casa:
já está, é doce, cor do dia;
fim do poema, abrigo, quietude, deitar,
crepúsculo, dourado, aroma, casulo, origem?
Concha que envolve as coisas,
sabor de retiro, aurora que fecha,
ao longe os pássaros voam.
Sei que eles nada têm a ver comigo. Eu sei! —
Maura, eu sei, eu sei disso.
Mas quando chego a casa e fecho a porta,
eles passam por mim; bate certo,
como num poema bate certo, como em frases
que de fora enlaçam a nossa vida,
ainda que um ou nenhum de nós as leia
se não pelo ritmo com que no mundo,
tal como numa frase uma coisa acontece,
tudo acontece. O compasso do mundo:
sou agente e não o escrevo,
sou só vítima corrente que confirma o fluxo
lendo ou não, em cenografia abertamente
e desapercebida dos meus incálculos.
Mas o ritmo pode haver ou não, sabes?
Pode haver ou não interrupção do que nos levanta
a alma e a mantém em ritmo. Eu...
Eu não quero cometer um erro, sabes?
Não quero fazer mal ao que é tão bonito.
Não quero violentar por negligência
nem por falta de atenção.
Dirias que é um erro, ou não,
não prestar atenção aos ritmos do infinito
em toda a nossa vida, cada um dos dias?
Eu não quero esquecer-me de nada essencial,
não quero cometer nenhuma violência por descaso.
E eu não quero estar sozinho;
não quero que nada disto não faça sentido.
tarde
Hoje vou ficar aqui, neste manto fofo que é berço
de quem já cresceu, almofada de sofá, e deixar-me envolver.
Se eu massajar os pés como quem conta os dedos
e fala com eles, para compensar o quanto se os ignora,
talvez passemos uma tarde juntos: coisas de mim mesmo
que geralmente não sinto, ou só sinto quando dói,
ou quando uso, ou quando pego; talvez eu queira pegar
numa coisa qualquer e observá-la muito tempo,
o material, o frio ao toque, as curvas que convidam
esta mão minha a estar à porta, a aproximar-se,
a querer entrar ou dar a volta, ou eu abraçá-la
como quem se une, ou deixá-la como transeunte
que seduz sabendo isso, só de estando ao lado.
Se eu roçar a pele por este cume de fazenda
como planalto de cores pertencendo a alguém,
sei que é isso que o sol aprova quando nos ilumina:
dá aura ao contorno, dourados trilhos do suave;
e eu não sei se isso é estar apaixonado, porque
está-lo é o mesmo: passar as costas do interesse
por humana almofada e o sol aquecer.
E se correr bem, e se eu me lembrar de formas
e sensações que eu mesmo tinha e me tenho esquecido,
sei que elas voltaram, a paixão existe,
a doçura em riste das coisas, e é para elas,
e para o tempo que levam, que o sol passa:
dá-nos o instante, o lugar, a demora,
e ilumina-nos, e enobrece isto.
aroma
Mas a utilidade de uma flor não é assim tanta. Observas, cheiras, admiras, e pouco mais. A admiração é uma coisa sem consequência: podes prolongá-la durante horas no tempo, mas ela não deixará de ser a mesma, congelada. Depois de algum tempo é razoável que te afastes e faças outra coisa.
A utilidade do movimento não é estar muito tempo frente a algo: é continuar noutra direção qualquer, para o qual o resto do dia te pede utilidades. Anda-se numa direção ou noutra, nunca em duas. Aliás, se voltares estarás a cometer um cansaço em excesso para o prazer que vais ter novamente. Já não estás a descobri-la, a flor já é aquilo que era, e não conseguirás estar surpreendido por insistência.
Querê-lo é desrespeitar a rapidez natural com que as coisas têm pertinência — a velocidade com que se cozinha, com que se conhece, desiste, conversa ou desfruta. Parecerá que nada disso tem um valor de ritmo, mas tem: o da reformulação e esquecimento a cada segundo, ou a cada três segundos. A flor em si não conhece o conceito de utilidade como nós conhecemos. Ela está sempre a fazer a mesma coisa, continuamente. Só nós precisamos de mastigar e depois engolir, despir e depois lavar, deitar e depois dormir. A não ser que a flor tenha os seus próprios horários e nós não percebamos isso. Talvez ela mesma possa, por erros de biologia, demorar-se ou repetir momentos sem utilidade.
Talvez seja mesmo uma ofensa à flor querer prolongar a observação, como quem se enfastia: como quem diz: flor, neste momento já estás a aborrecer-me, já não me fascinas como no início.
É esse o momento de voltar ao caminho: de seguir em frente quem seguia ou de regressar a casa quem regressava. Lá em casa há outras coisas que esperam, e elas são mais importantes: são as que reivindicam os verdadeiros horários, o ir para a frente ou para trás, o ser meticuloso ou apressado.
A idade é decerto uma coisa peculiar: o elemento invisível que faz com que uma cadeira seja uma confirmação de si mesma porque se mantém quando passou tempo, porque insistiu em permanecer num universo que muda. De certo modo, o fenómeno de afirmar a sua duração. A duração, a previsibilidade.
Só as flores — e outras coisas dessa natureza — admitem uma cruel brevidade, e talvez não o façam se não na medida em que amanhã, ou noutra semana, ou noutra estação, estará ali outra como ela, trazendo a mesma mensagem que não demora mais do que uns segundos.
Eficiência, ineficiência. A criança atrasa-se no percurso para ver um pormenor que não tinha importância. Imagine-se a quantidade de atrasos que haveria por todos os pormenores que, no trajeto de um dia, não têm deveras importância.
Seria talvez um atraso igual aos que sofrem de transtorno obsessivo-compulsivo; igual ao dos com síndrome de Tourette, quando não conseguem escrever um texto sem o apagar; igual aos fóbicos que recuam no durante sair de casa ou ir encontrar alguém; igual aos que, por algum motivo, mal conseguem fazer uma coisa antes de começar já a sabotá-la.
Talvez até sociedades inteiras não sejam lentas ou rápidas por pressa de sua ideologia, mas tão somente pela velocidade com que a nossa natureza nos pede para dedicarmo-nos ao próximo assunto que importa acima de todos os desejos vagos e de todos os pequenos pormenores de atenção que nos arrastariam o tempo demasiado precioso.
Em termos de felicidade, de felicidade longa, com a sua duração e a sua medida, será talvez um contratempo ridículo parar o mundo inteiro por um momento minúsculo: um momento da categoria do acidente, do distúrbio, do a-histórico, do i-repetível. Não será absurdo considerar que a parte mais saudável de uma sociedade é a que lhe permite erigir a estrutura que continua a gerar sociedade nos séculos depois. Tudo o resto são brevidades privadas, assuntos que se esquecem como os devaneios sem consequência que acontecem num recreio.
A ponto de ser apenas um enunciado das crianças e dos loucos, uma decisão contra a magnitude dos sistemas que se mantêm, e se mantêm, e se mantêm, o assumir sem tempo certo essa total falta de estratégia que é o destruir a velocidade do instante para ver a beleza — talvez repetida, talvez categórica, talvez cíclica — de uma flor.
impressão cutânea
Por vezes, sinto que preencher o espaço
entre dois dedos mindinhos é tão erótico
quanto ir ao mais fundo do meu corpo.
O simples acordar a pele e fazê-la lembrar-se
das suas concavidades não é diferente
de uma frente de mar escavada pelas ondas:
sabe que há ali uma mistura possível,
e isso não é apenas um alterar fronteiras:
é um modo renovado de a areia
se lembrar de que a água existe e,
nesse ponto confuso, tornar-se tanto mais
profundamente outra coisa quanto mais se esquece
de que continua a ser-se a si mesma.
Algo que de certo modo mais extravasa os êxtases
dos santos quanto mais as suas formas,
dos dedos aos canais, das articulações aos poros,
se deixam invadir pelo que as ultrapassa.
O que, de certo modo, faz do universo
um lugar só possível quanto mais as formas
se deixam aceitar essa arena do dia a dia:
o modo como as coisas, das mais complexas às
mais simples, das religiosas às metafísicas,
das diplomáticas às logísticas,
se entregam nos suaves jogos de encaixe
com que a matéria brinca, como crianças
que experimentam episódios da imaginação
e deles as sensações que permitem construir,
por a+b, profecias da peripécia,
moldando essa matéria prima que sustenta,
eternamente, escatologicamente,
os microscópico segredos do dia a dia.
olhos azuis
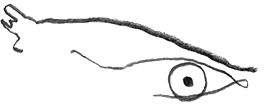
Eles olham-me.
Sei que tenho olhos de um azul intenso,
nem eu sei como aconteceu.
Não quero olhá-los de volta como quem inquire;
apenas quero eu mesmo ter curiosidade
em relação aos olhos deles, mas ao olhar
pareço mostrar ainda mais os meus olhos.
Decerto posso usar isto a meu favor;
posso olhar quem quiser, tão simples como isso;
ferramenta de olhar que parece afinal
ter um extra em cima, olho, mostro-me,
quer eu queira ou não fazê-lo.
Não sei se eles têm inveja de mim. Sei que estes olhos
são mais intensos e fascinantes do que a maioria
do que eu vejo por aí. Mas eu não sei
o que a penetração do olhar significa: isso
depende daquilo que eu quero ver,
independentemente do que os olhos mostram.
Não sei se quero receber elogios. “Tens uns olhos lindos”,
alguém me diz. O que posso eu dizer? “Concordo?”
“Obrigado?”
Não me sinto confortável a agradecer um prémio
que não veio do meu esforço. Seria o mesmo que dizer:
“És argentino? Parabéns”.
É certo que posso usar estes olhos como quem nasceu
com privilégio; isso de facto faz-me feliz,
posso usar estes olhos sem ter feito nada por eles.
Mas em todo o caso não sei o quão excitante isto pode ser;
os outros elogiam-me por inveja, por comparação,
e eu não posso comparar estes olhos com outros
que nunca tive. Nunca me foi dado a escolher,
tenho-os simplesmente.
Claro, sabe bem que as nossas coisas sejam belas,
e até sem comparação. É sempre bom
termos a sensação de que no nosso corpo
começa o Paraíso: o simples acto
de as coisas do universo correrem bem,
sem outra probabilidade que não essa.
Mas eu não sei, ainda não consegui ter outras coisas
que eu tenho desejado mas não conseguido já.
E até agora, nunca me foi dado receber outro elogio.
Nasci, foi isso, e ainda não fiz mais.
sucesso e trauma
Lamento que te diga isto como quem não aprendeu
o que deveria ter aprendido.
Mas na verdade,
nada do que damos por garantido,
como se pudéssemos sabê-lo porque aprendemos,
é necessariamente certo;
o que chamamos normal nem sempre denota senão
uma esperança íntima, impulsiva,
de que o mundo seja normalidade,
desse modo como a vivemos a cada dia
juntamente com o desejo de tê-la assim no dia
seguinte.
Um bebé não pode fazer isso.
Para ele, não há futuro nem passado, só existe agora.
E tudo o que acontece faz e não faz sentido ao mesmo tempo.
Esse é, talvez, o único momento em que não se aplica
sobre a realidade os seus próprios desejos e ilusões: apenas se
observa, sem ter na mão um manual que lho explique.
O que é certamente excitante e assombroso.
Aliás, nada do que parece simples no universo é deveras simples:
só nós, com o tempo, acabamos por esquecer-nos disso.
A coisa mais básica do universo,
se pensarmos bem, se nos lembrarmos,
é estranhamente complexa.
Olha aqui por exemplo:
uma cara que desaparece não deixa de existir!
Já vi muitas vezes, compreendi o padrão.
Ora observa:
a cara da mãe não desaparece: apenas se esconde.
Entendes? Esconde-se. Diferente de: desaparece.
É estranho, mas é verdade:
as coisas, as coisas que existem, podem ‟estar”,
mas também ‟não estar”, aqui.
Olha, aqui vai outra vez:
a mãe esconde-se atrás da parede; está a fazer de propósito.
Ela quer fazer que deixou de existir, mas eu já sei o truque!
Atrás de parede, há mãe. Só que, também, há parede.
Olha: vês que ela apareceu de novo? É giro, não é?
Isto de certa maneira explica muita coisa.
Por exemplo: olá e adeus.
Há coisas que já se viu antes — olá!
Elas lembram-se de mim e eu delas; o que significa
que entretanto cada um de nós havia.
Mas para onde vai o que desaparece, quando desaparece?
Quando a mãe está depois da parede, está onde?
O que está exatamente entre nós, quando não se vê?
(Quando uma pessoa desaparece para sempre,
foi-se pôr atrás do quê?)
É bom podermos saber as coisas sem as ver.
Mesmo para um bebé que não precisa de ver a mãe
para saber que o ama. A felicidade implica uma certa
esperança da validade.
Ou seja: em termos estatísticos,
geralmente as coisas duram.
Uma espécie de confirmação da imaginação,
fazendo-a não perceber que no fundo arrisca
quando acredita no próximo encontro.
A isso chamamos confiança.
Um certo jogo arriscado das expectativas.
Das ilusões.
Ou:
da normalidade.
Não há como não investir num jogo da normalidade,
apesar do risco;
porque esse próprio arriscar
é já, talvez,
assumir um postulado daquilo que vale a pena.
E não temos outro modo de viver senão acreditando
no que de hoje se possa manter para amanhã.
Apesar do risco.
—
Mãe, vamos brincar outra vez?
Anda, já podes aparecer!
...
Mãe?
corte de cabelo
Ela está frente ao espelho.
Tem a tesoura, e treme.
Vai cortar o cabelo.
Não é um corte qualquer.
Não é aparar pontas, mudar detalhes,
coisas pequenas que ninguém nota.
Ela vai cortar muito: mais para cima, mais perto da origem.
Mas é preciso que a mão não trema.
Raras vezes a mão faz o que não se pode reverter:
não é como entornar uma coisa ou arrumar errado:
é fazer desaparecer. Como anular algo
que não se consegue encontrar outra vez.
Sim, claro, o cabelo cresce. Mas até lá,
todos verão isto. Toda a gente vai ver.
Parece uma questão temporal: mais perto da raiz,
maior o estrago. Maior o tempo que o resultado fica.
Cortar: cortar o tempo; cortar o passado.
Pode-se isso?
Mas cortar o cabelo é só cortar o cabelo,
mudar a forma de uma coisa de um instante para o outro.
O que tem isso a ver com o passado?
Não deverias ter medo, diz ela para si. É só cabelo.
Mas a mão treme.
Zás — — — um corte. Já está.
Agora já não posso mudar.
O que dirá o meu pai? O que dirá alguém?
Quero só fazer uma experimentação... Mas e se der errado?
E se ninguém gostar? Não quero que me digam que eu fiz uma coisa estúpida.
Cortar o cabelo sem ter experiência nenhuma — isso é estúpido?
Que horror, isto já está tão feio...
Pensei que seria mais fácil. Afinal não é coisa que se corta
como se corta cebola ou fita adesiva.
Exige uma certa perícia, uma certa ciência na perfeição do corte.
Eu só quero experimentar,
mudar. Mas se isto ficar deplorável,
significa que aos olhos dos outros eu sou deplorável?
Afinal não posso dizer Enganei-me!
Tenho de assumir este erro. Eu quis um erro.
Mas agora, como posso corrigi-lo? Já não posso voltar atrás;
só posso continuar, tentar que o corte me fique bem.
— — — Zás.
Se o cabelo é meu, não posso fazer dele o que eu quiser?
Ou era um corte decente aquilo que eles amavam em mim?
Se eu não tiver esse corte, invalida?
Ou no fundo isto já mostra que sou estúpida,
quis experimentar o que para eles é já um erro óbvio,
que nenhum deles faria?
De certeza que o pai nunca tentaria cortar o cabelo.
Nunca lhe passaria pela cabeça. E se ele mo perguntar,
o que lhe digo?
— — — Zás.
Que razão poderia haver para eu querer mudar radicalmente?
Se eu... Se eu até aqui eu sempre fui uma pessoa feliz,
que razão teria eu para querer experimentar ser outra coisa qualquer?
Será que...
Será que com isto estarei a dizer que afinal não era feliz?
Que me faltava algo? Que tudo isto afinal já não me é suficiente?
Eu não quero que eles pensem isso.
Estarei a entristecer alguém? A confrontar alguém?
— — — Zás.
Estarei a atraiçoar alguém?
Eu nunca tive de justificar a mudança das minhas roupas...
Sei que não deveria estar a fazer isto. Oh, está a ficar pior, e pior...
Nem sequer consigo ter o ângulo certo: para a mão estar na posição certa,
tapa-me a vista ao espelho;
seria preciso eu ver o reflexo, mas a tesoura mete-se à frente.
Isto vai ficar tudo aos ziguezagues, parece que tem falhas...
Parece que tem doença.
Será que alguém se incomodará de estar junto de mim?
Como quem se incomoda estando junto de uma pessoa deformada.
Mas que direito é esse, de querer sentir-se incomodado?
A pessoa deformada não escolheu ser deformada.
Mas eu escolhi este corte. Fui eu que quis; significa que eu quis ser deformada?
Estou a assumir-me querer ser horrível perante alguém?
se passo por alguém na rua, o que digo?
Com um corte assim, passo a ser contra, como se tivesse decidido
ser contra a normalidade das coisas, ou ainda posso estar a favor?
Posso continuar a ser vista como a pessoa que era?
Mas isto não era mensagem nenhuma para ninguém,
não é publicidade, não é pergaminho.
Mas eu no fundo só queria assumir ser diferente.
Não contra alguém, não a favor de alguém. Apenas diferente.
De mim mesma.
Talvez tudo isto pareça presunção da minha parte:
certamente toda a gente vai pensar que faço isto porque quero parecer outra coisa.
Fazer outra coisa. Sentir outra coisa.
Ser com outras pessoas. Vestir coisas diferentes. Sentar de modos diferentes.
Mas mesmo que eu quisesse parecer outra coisa,
não seria paradoxo julgarem-me por aquilo que eles pensam que eu pareço?
É uma superficialidade.
Zás. — Eles julgam-me.
Eles são superficiais.
Zás. — —
Mas toda a gente julga pelas superfícies.
Por aquilo que uma pessoa traz. Carrega. Faz.
Pelo modo como a roupa facilita, pelo modo como
a bolsa organiza. Pelo modo como a limpeza ou a falta dela
indica o que para determinado fulano é elementar.
Não sei o que quis ser ou fazer com isto.
Sou só a ingénua, a coitadinha. Criancices de quem é adolescente.
A coisa mais deprimente é ter má figura
e nem sequer saber isso.
Zás. No fundo, pode ser-se bom ou mau, honesto ou hipócrita,
o que importa é o charme com que se o mostra.
Mas... Zás — — — Oh , cortei muito agora...
Vê-se tanta pele, que horror... Que feio. O que faço?
— Eu não aprovei isto,
não aprovei nada disto, ouviram?
Ouviram?!...
Afinal, como fazem as pessoas para ser criativas?
Elas não erram? Não fazem experiências?
Como lidam elas com o erro que fica? Assumem?
Defendem-se? Escondem dependendo de para quem?
Mas se eu quero experimentar uma coisa, como experimentar e não ser julgada?
Afinal, um corte de cabelo é uma coisa social, ou privada?
Tem a ver comigo? Ou tem a ver com as regras da sensibilidade?
Aliás, se eu vivesse sozinha num lugar — zás — não teria medo de experimentar coisas. Seria livre. Teria descaso para admitir o erro. Nada importa. Correu mal? Corrijo. Não dá? Espero que passe. — — Um erro não tem marca. Aliás: um erro só tem marca aos olhos dos outros.
Viver junto dos outros é eles marcarem sempre o que acontece.
Mesmo que não queiras ter de decidir o que vestir.
Não podes não escolher, tens de escolher qualquer coisa.
E se eu não sei como?
E se mudo de ideias? E se me arrependo?
Assumo um erro: está-me no cabelo, mostro-o. — Zás.
No fundo, assumir é um ato de coragem. —
Porque os outros julgam.
Só os fracos se escondem atrás daquilo que os outros julgam.
Só os inseguros seguem tendências. Só os cautelosos jogam pelo seguro.
É essa a vantagem da subtileza? Não se arrisca,
mas ao menos não se falha. Ninguém é confrontado com maus experimentos.
No fundo, isso é por definição o pacifismo, o pacifismo social:
ninguém tem de ser confrontado com experimentos.
Será que o amor no fundo é isso?
Não correr os riscos de arriscar ser diferente?
Não correr riscos: assumir a paz. A tranquilidade.
Pensar de antemão nas coisas que podem correr mal, e evitá-las.
Assemelhar-se aos outros. De certo modo, sim...;
assemelharmo-nos às coisas em que já confiamos,
as coisas que já mostraram ter bom resultado,
ser tranquilas, ser credíveis.
Deveria eu nunca ter experimentado?
Zás.
Afinal, quem decide as coisas razoáveis e as que não?
Também posso dar um contributo?
É preferível respeitar, ou é preferível incomodar?
Se eu não souber a resposta, sou responsável por ela de qualquer modo?
Zás. —
— Zás. — — —
——— Zás.
Talvez eles me olhem todos com desprezo.
Odeio-os. Odeio-os a todos por ter de pensar em tudo isto.
Qualquer que me olhe com desprezo é ingénuo, medíocre. Não sabem
certas implicações das coisas, até das coisas mais simples. Como um corte de cabelo.
Nunca tiveram de pensar nas leis e limitações da normalidade,
porque nunca tentaram sair dela.
Isso merece já que eu os despreze.
Soraia?
Pai?? Ele já chegou a casa?
Ainda é muito cedo... O que faz ele aqui?
Soraia, onde estás?
O que digo? Eu ainda não acabei,
não era para ficar assim.
— ... Pai? Estou na casa de banho...
Ele está a subir as escadas.
Vai abrir a porta.
Vai abrir a porta...
— Soraia?... O que estás a fazer?
— Pai, desculpa, desculpa!
Não é contra ti!
Não é contra ti — eu amo-te! Não digas nada,
por favor, não quero, não... —
Tu és o meu pai na mesma.
Eu amo-te...
cantilena
este é primo deste,
este é primo deste
este é pequenino
este é seu vizinho
pic pic pic pic pic
cinco dedos que tenho no pé
cinco coisas pequeninas que não sei bem para quê.
mas sabem bem:
quando a pessoa agarra nos dedos um a um,
afeta-me. carrega mas não aleija. não sei que sensação é…
parece mola que agarra e faz “isto aqui”,
cinco vezes: aqui, depois aqui, aqui, aqui, aqui,
contar para ver se não falta nenhum, estão todos
todos do quê? de mão que tenho, deve ser isso;
tens estes dedos todos e eu protejo-os um a um,
carrego como quem puxa orelha mas não é isso,
carregar parece de força mas é de carinho, porque não carrego muito,
e estou a fazer tudo à tua vista. Olha:
este dedo, este dedo, estás a ver que eu carrego e digo
“um”, “dois”, “três”,
não são dedos meus mas ajudo-te a contá-los, tu possui-los
mas talvez não saibas quanto são, ainda não fizeste cálculo
porque não sabes, e por enquanto não precisas,
nem dás importância ao que ainda não usas
nem portanto dás falta.
E olha, diria talvez ainda essa mão que carrega:
seria diferente se eu carregasse sem ser à tua vista:
como quem canta uma canção fingindo fazer outra coisa,
ou aproveitando-se de partes de ti que desconheces e portanto nem sabes
nem podes nem pressentes nem escondes
nem proteges porque não percebes,
e eu querendo fazer mal a ti com coisas essas de tua carne
que para mim poderiam estar-te desacopladas, podiam ser só as coisas em si,
pequeninas, fofinhas, e não te estarem a afetas;
poderiam não te estar afetas essas coisas que tens,
diria ainda essa voz, um, dois, três, quatro, cinco;
carinho que te dou é porque te tenho carinho, seja qual a polpa
do teu corpo; ou o corpo convida-me a carinhos que tenho
por doce polpa mas não por ti? Se eu tiver de separar, e tentar perceber
qual é quê, admito que perversão é separar as coisas
quando as deveríamos amar apenas juntas;
Assim te dirá meia gente do mundo – que, por exemplo,
o beijo é só para namorar a sério, ser companheiro,
que o sexo é só para procriar;
que a sede é só para alimentar o estômago e que a roupagem
é só para o agasalho, por exemplo;
maldade é tirar a parte sagrada da polpa e apalpar
a polpa só por ser polpa, sem olhar à coisa de que faz parte;
porque olha, se um dia amares alguém, ou uma terra,
ou um edifício, ou uma ideia, também não saberás – nunca saberás –
se aquilo que amas é a essência coisa em si ou a polpa de atributos
que te excitam, dos pormenores que decoram essa coisa amada,
sem poderes dizer de ti para ti o que amas especificamente,
como poderás separar o um dos pormenores;
assim poderia dizer a mão que canta e carrega
um, dois, três, quatro, cinco,
mas não diz e eu sei que não, e sei que não pensa assim, ou não nisso,
não dessa forma; quer ensinar-me, vendo e sentindo,
a associar as duas coisas: dedo que vejo e sensação do pé que tenho,
isto corresponde a isto, isto a isto, isto a isto,
o total é cinco; e tudo é de mim, sou eu,
e se sentires outro mais ambíguo em contorno terás de ver e analisar
para saber onde é, para saberes melhor, para conheceres
– e terás tempo – porque hoje a lição é esta, é os dos cinco.
Eu gosto deste jogo; faz-me sentir carinho e matemática,
como quem diz, as coisas no corpo são muitas,
e tu um esquema, bem somado: e tudo tem um jeito seuzinho,
o teu: mas qual que seja, conta à mesma à matemática geral,
seja qual o estilo dos dedos que haja em cada pessoa,
como medicina a que só interessa o inventário, seja qual o estilo.
Eu tenho os meus pés neste estilo, são pequeninos, redondos,
não sei se isto representa a categoria – se não, ou se é só aproximado,
que vergonha deveria eu ter disto?
Afinal, mão que me apresenta os dedos vê-os melhor do que eu,
já os viu antes de mim e toma que sou eles por agregado direto.
Se eu quisesse, poderia ela nunca ver os meus dedos?
Nem os dedos, nem o tronco, nem o braço, nem a cara: afinal
há qualquer coisa que tenho de mostrar,
caso contrário não há música que se cante em conjunto;
tenho então de mostrar sempre qualquer coisa, mesmo que
só minha, para existir? Que atributos são esses
que nem eu sei bem, se os mostro antes de os conhecer?
Dedos um dois três quatro cinco
que outra pessoa analisa antes mesmo de eu os defender por mim,
que posso ou não deixar a descoberto;
quando eu for embaixador de continente este para outro
e negociar com nação desconhecida: exponho já e digo
“somos assim” antes de fazer o útil que os dedos fazem,
porque primeiro mostram e só depois agem;
e mesmo que eu quisesse falar em público na mais pura privacidade,
na parte mínima que cada um é de si próprio apesar do mundo,
escondido dele, alheado dele, protegido dele, tenho de transmitir
usando o que de meu tem de ser público para fazer ponte
entre secreto e partilhado;
o que uso para isso? Prodígios da exposição dão tom estandarte
a representante, que em degraus da intenção vão passando mensagem
através das formas até aonde é ruidoso e universal;
mas não há como mostrar nada, nada,
e ainda assim negociar ideia que se tenha com o resto mundo
que se considera mas com quem não se partilha.
Privacidade é pele mínima impossível, parcial do que de secreto
tem de ser exposto em toda a coisa que no mundo participa,
e sem poder definir o estilo com que a mensagem se manifesta,
porque peculiar é já o modo como articula. Parte minha, como defino?
Dedo é meu e então o uso, porque material que por ser gratuito
faz sentido, absurdo se não? Porque a mim afeta, talvez isso – isso,
aperto1, aperto 2, aperto 3, aperto 4, aperto 5,
cinco pormenores que de mim ainda não conheço, mas pessoa esta
que tem mão e voz agarra, abana e ama, assim parece;
talvez eu utilize isso no futuro, se afinal vem de mim e traz convite,
e dá pretexto, é volume, material, marcador de presença,
mesmo antes de eu saber o que sou, ou as coisas que de mim sinto
como minhas, ou as que me fazem sentir como alma delas,
porque a elas me habituo sentindo todos os dias
– este, este, o do meio, o outro, seu vizinho
nota de suicídio
Não me interpretes mal. Eu esforcei-me, tentei.
Por vezes não aguento a injustiça do mundo;
posso ignorar: é o que toda a gente faz: quando
lê, quando veste, quando come, quando conversa:
toda a gente pode dizer: não fui eu, eu estou só aqui.
E não fazer nada é um modo de se ser inocente,
porque, supostamente, não se fez nada de mal;
é como quem vê um estrondoso acidente de automóvel
e decide passar ao lado: eu não fiz nada…
Mas por outro lado, há tanta dor horrível que eu
não sei resolver…: não tenho como, e não sei se posso
resolver problemas que não são meus, que mal conheço.
Contudo, sei que o suicídio não ajuda em nada —
na verdade, ninguém que se mata fá-lo para ajudar o mundo,
mas somente para ausentar-se dele: para salvar-se
a si mesmo. Se uma borboleta sofre e eu morro,
não a ajudo em nada: simplesmente, ela sofre sozinha.
A única coisa que muda é a ansiedade: deixas para outros.
A não ser que o mundo desapareça quando desapareces:
é uma hipótese, se tudo isto apareceu quando nasceste.
Se há um dilema, se por vezes vacilo entre o viver e morrer,
é por isto: posso 1) matar-me, ou 2) acariciar uma borboleta,
e enquanto gesto, a hipótese 2) é mais interessante.
No fundo, existir não é aprovar o universo inteiro;
ninguém o faz — existir é aprovar uma qualquer coisa,
talvez a mais recôndita, subtil, que para ser vista
é preciso que mais todo um resto exista.
Ausência, verdadeira ausência, seria nunca ter existido,
nunca ter tido nada a ver com o ato de ter de agir.
Poderia haver nada antes de haver tudo isto.
Mas mesmo talvez o nada por vezes se aborreça,
e tenha saudades de ser alguma coisa.
Mas quando já nada mais te convence no mundo,
— entendes o que eu quero dizer? — quando nada mais
te convence, a ponto de teres tanto cansaço disto tudo
que já nem mais te interessa o sofrimento das coisas,
porque tudo é as irrelevâncias e futilidades de estar vivo,
de repente algo muda:
a dor é irrelevante, a injustiça
é irrelevante, viver ou morrer é irrelevante, sem consequência,
e qualquer desespero sobre o mundo é supérfluo:
a tal ponto que mesmo a ideia de suicídio é irrelevante:
o suicídio só faz sentido se é verdadeiramente importante
aquilo de que queremos fugir. Se não mais o é,
qual a necessidade de ter de fugir? De onde? Do quê?
Por isso, sempre que no desespero estou no limite
de acabar com isto tudo, porque nada mais interessa,
sinto que já não preciso de fazer nada: nem de sofrer
nem de matar-me, nem de preocupar-me nem de agir,
porque tudo é indiferente, suave, como fantasia de criança.
E aí sei que tudo é leve e que nada importa, que resta apenas
um inocente e insignificativo entretenimento, este de ver
as coisas a mexer, e a participar nisso, de modo que as maiores
barbáries são também admissíveis, porque nada tem verdadeiro
conteúdo, nada importa. E por causa desse leve entretenimento,
e depois disso, lentamente, vou amando coisas outra vez,
vou sofrendo com elas, e à medida que me vou envolvendo
cada mais uma vez sinto, profundamente, que o querer morrer
é proporcional à intensidade de ser afetado, de sentir,
de estar vivo…
logística do sentimento
Estou triste. Ela não reparou. Gostaria que ela reparasse. Não sei se lho deveria dizer. Não quero incomodá-la. E só é preciso dizê-lo quando as coisas não se percebem. De qualquer modo, se ela não repara será que está mesmo atenta? Dizer que estou triste é o que eu poderia dizer a qualquer pessoa. Qualquer pessoa que não repara. Mas ela não me é qualquer, não quero tratá-la assim. Talvez ela apenas precise de ajuda no reparar, precisa de treino, até um dia conseguir fazê-lo como a pessoa especial que é. Não a quero magoar, nem sequer incomodar, nunca lhe faria isso. E se eu me fingir feliz? Fingir-me feliz ao ponto de me saírem lágrimas de tristeza. Assim ela vai ver o quanto eu estava a fazer um esforço por não a incomodar, apesar de estar triste. Porque mesmo triste não quero incomodá-la com isto. Mas não quero fazê-la sentir-se culpada por eu fingir que estou feliz. Será melhor mostrar o quanto estou triste, deveras triste? Porque talvez eu não esteja a mostrá-lo. Tenho de forçar um bocadinho. Não é exagero. O quanto consigo mostrar que estou triste é o quão triste estou. Caso contrário não quereria mostrá-lo tanto. E se ela ainda assim não repara? E se eu morresse? Talvez seja o melhor modo de dizer: "ele estava triste". No fundo, tristeza que dura é mundo que não vale a pena. E se não vale, vale a pena por um instante? Valer a pena seria um instante feliz. Tal como ela está; mas se ela soubesse o quanto estou triste, não andaria assim a dançar. Tanto que mais me faz sentir mal por ter de a interromper para dizer que estou triste. O que é injusto. Triste já eu estou. Aliás, a tristeza é já um sinal de desigualdade. O que lhe posso pedir, se ela é feliz? Ela pode abraçar-me para dizer que está tudo bem, mas como pode ela saber? Um abraço é fácil, não oferece solução, é apenas calmante. Talvez eu deva pô-la triste por saber que não me entende. Isso sim, seria genuíno. Porque só quem está triste pode entender a tristeza dos outros. Ou no fundo a tristeza existe porque ninguém se entende, o que é inalterável. Nesse caso, para que me serve ela? Que amparo me pode ela dar se não o amparo sem mensagem que eu próprio daria ao abraçar-me sem solução? Talvez seja melhor: passar da tristeza ao ódio, que move e resolve tudo. Ou da tristeza ao drama, que entretém. Se eu estou triste, que emoção dá isso nela? Prazer? Ternura? Condescendência? Mas eu não lhe sou inferior só por estar triste. Não sou demasiado exigente por estar frustrado. Não sou mais heroico por estar consciente. Ou sou? Talvez seja. Talvez eu deva estar triste sozinho, é privilégio. Nesse caso, não sei se tenho de ter, ou se quero, ou se preciso, de uma mão. Ainda não sei para que serve a tristeza. E ela dança na cozinha, e está feliz. E eu não sei alterar isso. Sim, talvez ela seja ainda mais feliz sem mim, sem a minha tristeza. Ou talvez eu e ela estejamos à parte, apesar de tão juntos: de outro modo como se explica que em três metros de distância uma pessoa sofra e outra dance? Nenhumas duas coisas no universo estão relacionadas. Estou triste; talvez tenha nascido triste, é facto; talvez eu próprio saiba ser diferente de quem é feliz, porque nunca o fui, a par de quem o é. Pode-se aprender isso? O que vê ela de mim? Ela dança e vê-me aqui, vê-me feliz? Talvez só eu a veja feliz, porque vejo-a como ela é. Quem é feliz vê tudo feliz. A não ser que eu veja tudo feliz só porque estou triste. Felicidade é a distração original. Não há justiça em haver ao mesmo tempo coisas felizes e tristes. A verdade, somada, é triste: é triste saber que há coisas felizes e ao mesmo tempo coisas nem tanto. Estar feliz quando o mundo é triste, essa sim, é a maior cegueira. Vou dizer-lhe isso: que ela está errada. Pára de dançar, isso é falso, o mundo está triste, tenho de lhe dizer. Mas ela dança tão bem... Ela é a culpada de as coisas serem tristes: porque se ela não dançasse, se fosse infeliz, não haveria mais injustiça, estaria tudo triste. O que, numa total justiça das infelicidades, talvez me pudesse colocar um pouco feliz. Apenas um pouco. Talvez o suficiente para alguém, de modo muito subtil, querer dançar. Seria isso bom? Dançar por um motivo feliz. E também: chorar por um motivo triste. Dançar e chorar ao mesmo tempo, talvez fosse esse o ideal. Dançar apesar de tudo, chorar apesar de tudo. Decerto nem tudo está triste nem tudo está feliz. Ela está feliz, e dança. Isso enfurece-me — ela não vê que estou triste — e alegra-me um bocadinho. Ao menos um de nós está feliz. Felizes os dois por isso, por motivos diferentes. Talvez também estejamos os dois tristes por motivos diferentes. Lágrima já eu cá tenho, sorriso tem ela. Ela vê-me; vou ter com ela. Não sei o que digo. Não sei o que faço. Vou ter com ela, apenas. Ver no que dão estas duas coisas juntas.
bengala
Ele precisou de ajuda para se levantar; e pediu.
Pediu ajuda para se levantar: levantou a mão, segurou,
apoiou-se firme, pesado. E empurrou.
Para ele se levantar, precisa de pelo menos agilizar a mão:
a pouca parte de si que consegue levantar sozinho;
e depois disso a mão precisa de agarrar, apoiar-se, pressionar.
No fim, ela virá atrás, a mão, depois de o corpo todo se mover,
depois de ela ter sido a primeira e ter esperado tudo o resto
e for a última coisa que falta trazer atrás de si.
E então, é o oposto, não é ela que traz o corpo,
é o corpo que a traz, porque sem o que a puxe
ela não consegue levantar-se.
Os pés sozinhos também já mal dão para levar tudo o resto —
eles mal vêm atrás quando ele todo vai para a frente,
e continua a precisar da mão, esta ou aquela, talvez a melhor,
uma que vá à frente o suficiente, que o guie, que o suporte.
Que o suporte: que o tolere, que o permita, que o carregue.
A mão carrega-o: poisa aqui e ali de vez em quando.
E mesmo que a mão não queira descansar quando se apoia
no braço da cadeira, descansa sem o saber:
o primeiro momento do pousar é sempre um descanso,
só depois vem aquela força a mais do que o peso,
para carregar no resto, isto se não for já descanso
todo o peso contrário ao que nos martiriza.
Já está, a mão empurra o corpo, o corpo vem:
ele levanta-se, avança. Já não precisa de ajuda:
continua sozinho, já não tem de agradecer.
Aliás, se esta mão, para ajudar a levantar, estava por cima,
não precisa de agradecer à cadeira que havia por baixo;
e se ele precisou de apoio, suporte, foi para levantar-se,
para ser superior. A não ser que quem o suporte
seja aquilo que tem poder para elevar e eleva,
e ele deva agradecê-la.
Ou talvez a sua mão que recebeu ajuda era já superior
e não deveria ter de pedir, não deveria —
só é inferior porque se quis levantar, inferior às suas ambições,
superior aos assuntos que elas extraviam.
Assim é: ele não gostaria de ter de pedir: pede-o,
exercita uma humildade, e sabê-lo é já mestria. Quem levanta
a mão dele talvez se pense poderoso por um bocadinho,
talvez poderoso por tempo inteiro, porque poderia
levantar aquela mão sempre;
a não ser que todo aquele que não precisa de pedir
não precisa de saber, e portanto não sabe, e nunca chega a saber
que propulsões deveras elevam as coisas, as de baixo, as de cima.
Ele sabe talvez as nuances disso; não há estar sempre por cima
ou por baixo, e sabê-lo implica noções de diferença de alturas;
o oposto é todos nós, superiores ao que dispensamos,
inferiores ao que desconhecemos, julgarmo-nos normais e inocentes
por estar pouco acima ou abaixo do nosso nível.
A estatura dele até é mais alta do que a mão que o ajuda —
e se não por ser mais alta, por ser mais velha,
e se não por ser mais velha, por ser primeira,
porque foi a que estava ali a segurar as outras,
a ampará-las quando elas nem sequer levantavam,
dor e injustiça de ser adulto quando outros são crianças.
É o desgaste, não a fraqueza, o trabalho humilhante
de ter feito tanto para que aquelas mãos levantassem:
no fundo, coisas grandes, árduas e longas,
mais do que só movimentos simples
de levantar comida à boca ou pousar mão em varanda.
É por coisas grandes que agora a mão está pequena,
mas ninguém quer saber isso, pensam apenas,
é fraca: pouco lhe faz parte, levanta porque é suportada,
e ele mesmo sente o mesmo: é mão fraca, frágil,
o corpo fica, deixa-a ir e diz-lhe, voa, não interessa.
No fundo, qualquer mão que o levante é mão sua,
foi ele que a fez. Tendão fora de mim vem para uso de mãos minhas.
Não há, até, cima e baixo: até uma mão mesma tem em si
suporte e voo, palma de alavanca que a si mesma tem peso,
de si mesma tem polpa e seduz, origem e benefício.
Não há nada que consiga levantar-se ou empurrar-se por si mesmo:
as coisas precisam umas das outras para fazer
distâncias entre si e o obstáculo que as referencia.
Não há estar simplesmente em movimento ou parado se não
em relação ao que nos interessa.
Por isso ele não quer ter de dizer “obrigado”
nem “chega” nem “vai”, e não o pede:
nem aos outros nem a si mesmo.
Não sabe, e é humilhante, ou talvez não,
talvez mera parte de haver movimento,
não saber que direções trouxe aquilo que ampara
aquilo que empurra, suporta ou permite:
nem mesmo o corpo tem posse de todos os entraves
de partida e de chegada, de fugida e de meta,
tal como objetos que param por bater em,
onde, sem saber nem ter porquê, nem porque vão ou param
no limiar de si mesmos,
nem como sentem o que é trave, o que é meta, o que é rampa,
o que é sobre, o que é meu, o que é teu,
o que é longe, o que é perto, o que é já,
o que é cá, o que é chegada, o que é partida.
comunicação
Olá cão, chega-te a mim. Como te sentes?
Que pelo fofo... O que me cheiras?
Ah, gostas do suor da pele?
Que ridículo, tu a falar para um cão...
Ele não te entende, não fala a tua língua.
Mas tu não és capaz de estar com uma coisa sem a sujeitar à tua natureza.
Típico...
Nenhuma espécie consegue comunicar com outras se não na sua própria conduta.
Vestir um cão com uma saia é tão ridículo quanto pôr-lhe uma trela.
Se o cão acede, não quer dizer que seja justo: ele não sabe dos seus direitos.
O oposto seria: poderes colonizar tudo o que não se te verbaliza.
Mas o facto de não verbalizar já indica a desadequação:
se não fala a tua língua, não sabes se podes.
Precisamente por isso: porque não fala a tua língua.
Nem mesmo a expressão de um cão é óbvia:
não sabes o que motiva um cão a querer estar contigo.
Ambos parecem excitados, é tudo.
Duas criaturas que anuem não se entendem necessariamente.
Simplesmente, imitam-se.
Presunção é quereres saber a intenção de um comportamento alheio.
Nenhum estudo científico pode ir além da observação externa.
Observar uma coisa pelo lado de dentro implicaria ser ela mesma.
Só assumir que se desconhece uma coisa democratiza a relação com ela.
Duas criaturas são honestas quando sabem que não sabem.
Ou talvez: quando sabem que não sabem agir de outra forma.
O interesse nunca é meramente científico, é impulsivo.
Quero saber, quero investigar: porque tenho interesses.
A partir daí, tudo o resto é uso e presunção.
O cão estará também a tentar compreender-te, a seu modo.
Nada que possas evitar. Ou prescindir.
Naturezas vossas não vos pertencem: dominam-vos,
cada um na sua.
Talvez nem saibas exatamente aquilo que queres
quando queres entender um cão.
Só sabes que, no fundo,
não podes não aceitar a tua natureza.
É a atitude mais honesta que podes ter.
Seja...
Que pelo fofo... Gosto disso, é suave...
O que sentes, cão? Queres sentar-te aqui ao pé de mim?
Deixa cheirar também. Vieste para aqui?
no comboio
Eu não sabia que dava para ouvir música sem ter telefone. Não sabia que certos cadernos se escrevem e apagam sozinhos. Não sabia que dá para escrever sem ter de teclar. Nem sequer sabia da existência de óculos sem aro. Ou sem lentes. Não sabia que para certas pessoas, um material brilhante como o ouro pode ser tão abundante como a lã. Este jovem ao meu lado tem tudo isso. Não consigo parar de olhar. Ele olhou-me, sorriu; não sei se pensou que eu estou talvez interessado nele. Não estou... mas não consigo parar de olhar. De certo modo, ele quase me faz sentir ódio por mim mesmo, por ter roupas rotas e uma carteira velha. Mas ele não o faz por mal. Parece ser mesmo simpático. Ele não sabe o quanto me humilha, só eu é que sinto isso. Vou parar de olhar. Não quero dar a sensação de que
estou pasmado. Prefiro antes dizer: não possuo essas coisas porque não preciso delas. Como quem diz: sei o que isso é, não sou ignorante. Talvez ele pense que toda a gente o sabe, claro. Que toda a gente sabe o que é isto, este objeto, este utensílio; esta joia, este tecido, este aparelho. Normal, banal, é aquilo que nos aparece à frente sem sequer termos de pagar para ver; de modo que, se nos foi assim tão instantâneo, pensamos que o é com toda a gente. No fundo, exótico é tudo aquilo que temos de pagar para ter, ou tudo aquilo que procuramos desalmadamente. Suamos para que se nos avizinhe. No fundo, entre mim e este jovem há pelo menos uma coisa que não nos é exótica: este comboio. De certo modo, para mim e para ele isso já é normal. Não é que eu seja rico: mas quando eu nasci, o comboio já havia. Quando ele nasceu, já havia ouro nas roupas do dia a dia. De modo que ele não sabe se o ouro é abundante ou é raro: não teve de se esforçar arduamente. Apenas nasceu no lugar certo: estando lá, nesse lugar, as coisas parecem inevitavelmente fáceis e acessíveis. Talvez, de certo modo, ele seja tão ingénuo quanto eu. Ele tem muito, eu tenho pouco; mas ambos não sabemos o preço do que nunca tivemos de suar para saber que existia. Se um dia tivermos de o saber, talvez aí sim, tenhamos a epifania ou o trauma de saber o câmbio de certas coisas. Como o ouro, ou o papel. Ou um estômago saudável. Ou uma paisagem vasta e abundante. Ou alguém que haja ao lado quando se está sozinho.
a mão e a caneca
Está ali uma caneca. Na mesa.
Não quero dizer-te por que razão está ela ali.
Apenas isto: ela está ali.
E aqui, tu.
Vês?
Podes tocar-lhe se quiseres. Aproxima-te. Podes segurar nela. Está fria. Estás quente, diria a caneca, mas ela não o diz. Talvez também tenha curiosidade sobre ti; e de certo modo isto seria um diálogo entre vós dois, mas por algum motivo ela não pode, e não o faz. Não sei se a tua curiosidade é mais importante do que a dela — nem tu, talvez. Mas a ti, por algum motivo, é permitido ter curiosidade: e ninguém vai comentá-la ou impedi-la como se não tivesse sido autorizada. Simplesmente, podes fazer o que quiseres com a caneca, e em relação a isso só há silêncio envolvente. Podes segurá-la, envolvê-la, rodeá-la, como se rodeiam as coisas quando nos interessam: pondo as mãos em volta, preenchendo, invadindo, como vento que circunda, como coisa que, quando rodeia, quando envolve, não tinha forma antes. O sucesso da mão é talvez esse: a sua capacidade de não ter forma prévia de se adaptar tanto quanto possível a outras formas que, essas sim, são mais definidas. A caneca sendo uma delas: e aceita, e não resiste. Ou melhor, resiste: mantém-se ela mesma, não muda. Só as mãos mudam; só elas conseguem fazer isso, moldar-se no anel de uma caneca.
Superioridade, verdadeira superioridade, talvez fosse ser indiferente a tudo. Ser firme ao ponto de não ser abalado por nada. Ou o oposto: ser de tal modo maleável, como água, que não chega a sentir dor ou incómodo que lhe exija sequer atenção. Assim é o ar que nos rodeia: de tal modo neutro, pacífico, volátil, que faz com que pouco se note o ar que nos rodeia. Talvez ele mal nos sinta. Não se interessa, não se importa, não se afeta connosco. Esse é o extremo do que para nós não existe: basta que não fale a nossa linguagem, e nos rodeie. De tal modo que não posso falar sobre isso. Apenas posso falar de coisas firmes sólidas, que exigem a nossa atenção: estáticas, que são vítreas como uma caneca: como coisa que, depois de levada a uns lábios, continua ela mesma: é-lhe diferente onde se encosta.
Tu és decerto de outro tipo, pelo menos no que toca a uma caneca. Observas, tocas, e quando tocas, amas. Vícios de quem está ao pé e não quer estar sozinho. No fundo, ingrato é não ser afetado, ou sê-lo não mais do que só ar que nos rodeia. Mexer, manusear. Incomodar-se é no fundo ser convidado, afetado, presenteado com alterações, como quem pode mas não deveria ser largado numa mesa como estava antes. Isso é sempre possível. Mas seria um desperdício da forma das mãos, não ter nada a que se moldar, a que se incomodar. Até porque a mão quer interagir, quer agir, e ela não tem modo de ser, de existir, se não mexendo-se, moldando-se, como quem diz: não há nada por aqui? E tanto mais em relação a uma caneca, tão feita para que se lhe pegue... No seu aro ela já traz todas as mãos, no rebordo todos os lábios. Quase diz para a mão: bebe-me, estou cheia;
e di-lo como coisa que está funda, pesada, transbordante, repleta de si mesma. Talvez o esteja; mas isso só o podes saber tocando, envolvendo, perscrutando; como quem não sabe o que está por dentro nem se isso lá existe. O toque não vê à distância, não tem modo de prever sem se defender, não pode observar sem mergulhar direto, e o olhar não faz curvas. Tudo no fundo é invólucros, convidando, a toques de superfície, a indícios de coragem, a mostrar o conteúdo.
Ou talvez não haja conteúdo; não pode haver, se no fundo não há texto nem remetente. Talvez haja apenas os acidentes com que as formas se sugerem e se prometem. Tudo no mundo pode ser ou não para ti. Não tens como saber isso. Talvez, quem sabe, esta caneca nem quisesse estar aqui neste enredo; é apenas incidente de não poder estar noutro lado. Só tu não tens outro modo de olhar uma coisa ali deposta sem vê-la como exposta a ti. É inevitável — é inevitável a tudo o que se avizinha: pensar que está ali por algum motivo ou, pelo menos, com o que se possa fruir disso. E de certo modo isso é bom, é uma sustentabilidade das vizinhanças. Porque a ser de outro modo, nada no mundo funcionaria. Nada que pudesse unir dois destinos quando estão prontos. No fundo, podes até dizer que nem mesmo uma caneca tem a ver com as tua mãos antes de colocares as mãos nisso. Pegar, aceitar: dizer: estamos no mesmo enredo. Porque é com jogos de formas simples que a universalidade chega a todos. Há mãos que querem, têm sede, precisam. E as coisas paradas, como paradas que estão, são pacientes, disciplinadas: e esperam, e não se aborrecem, e não alteram isso. Nem se esforçam, nem precisam: não se afetam como quem envolve, ou pelo menos a sua linguagem não é essa. De tal modo que essas coisas não têm sequer necessidade de ter um destino, nem dar nomes, como «caneca»—
atitudes típicas de certas criaturas que, essas sim, se modificam, afetam, importam: aquelas que por vezes precisam de sentir haver mensagem, que por vezes choram, que por vezes querem, e que por vezes não podem esperar eternamente, pacientemente, pelo que venha de perto, ou de longe, de um toque, de um brilho,
de uma promessa de um aro de um acaso assim
prima privacidade
Hoje é daqueles dias excelsos em que se deve olhar para ele.
O cabelo, a camisa, a pele, a pose estão no melhor estado. Ele decerto quer ser olhado. Olha em volta como quem não repara, só para analisar.
Quer ser visto por aqueles que são belos, para se interessem nele.
Quer ser visto pelos que são feios, para que o invejem.
Não, de certo modo não quer que os feios o observem:
não foram convidados a isso, não é sequer desejado que eles se interessem,
ou que sintam permissão para observar.
Ainda que tenham de observar para saber se ele merece ser olhado ou não.
Ele preferiria, talvez,
ser apenas olhado por aquelas pessoas que lhe interessam.
E poder de igual modo só olhar para quem está interessado.
Ainda que estas duas coisas possam não ser a mesma.
Melhor:
ele gostaria apenas de ser olhado por aqueles que,
do seu interesse, se interessam também.
De modo que a sua beleza seja um sucesso das compatibilidades.
A beleza só a quem ela se dirige.
Decerto, a aparência não tem de ser uma coisa pública:
não tem de se dar a todos.
O acto de observar é certamente gratuito, mas isso não significa que haja permissão.
A esses todos que olham sem acordo, ele gostaria de lhes dizer:
não têm o direito de olhar para mim.
Toda a pessoa tem esse direito: a uma tão anónima privacidade.
Ainda que hoje, de modo especial, valha a pena olhar para ele;
de um modo que ele nem perceba. Observações que não o incomodem,
mas que confirmem de modo muito ténue, subtil,
que houve um olhar fugaz que o observou,
e que sentiu inveja,
porque ele sabe isso.
conversas com médico (4/4)
Sabes...
Fico sem saber exatamente as condições exatas da senilidade. Se eu penso que estou louco e tu dizes que não, qual a verdade? A minha, porque eu digo o que sinto, ou a tua, porque estás são?
Ah... Sei decerto que o estado de loucura é uma coisa que acontece aos outros. De si mesmo, todo sabe os desesperos e contradições que o afligem. Só de outra pessoa se pode apontar e dizer:
ela é louca,
na condição talvez lógica de que se ela está louca, está incapaz, confusa, não se apercebe, não repara na situação que a afeta.
E eu não quero com isto dizer que sei o que era a loucura dos que antigamente eram queimados nas fogueiras ou exibidos em jaulas;
e contudo, seria possível que muitos deles se apercebessem da situação em que estavam?
Apercebiam, claro:
apercebiam-se de que os outros lhes apontavam o dedo,
o que é já indício de uma discórdia essencial.
Mas vê:
ou melhor: não é isso o que eu quero dizer.
Ou melhor, é:
vê:
não é raro, hoje como ontem, alguém sentir-se louco, sentir que nada lhe faz sentido;
e isso, para um médico, seja já o sinal positivo, o sinal de que pelo menos uma parte do cérebro dessa pessoa está sã,
precisamente por isso: porque a pessoa reconhece que tem um problema. Isso confirma a parte saudável da mente, a parte intocada pelo diagnóstico.
E ainda assim,
se há mil anos atrás uma pessoa possuída pelo demónio
não estava de facto possuída pelo demónio e sabia disso,
que não estava possuída por demónio nenhum,
isso era suficiente para ela estar segura da sua sanidade mental,
ou talvez o facto de achar injusto a acusação que lhe faziam tornava-a já apta para aceitar-se louca, distinta do mundo, se o mundo à sua volta afinal não fazia sentido?
De certo modo, não estar em concordância com o resto das pessoas faz já de alguém o epicentro do absurdo, o estar contra um mundo que faz menos e menos sentido: ao ponto de não se importar de ser de facto inimigo dele.
Não é que eu queira comparar a minha condição à dessa pessoa;
mas mil anos depois,
eu entendo-a tão perfeitamente.
Tão perfeitamente...
Entendes?
Eu consigo servir-me da minha mente a maior parte do dia.
E consigo fazer aquelas coisas rotineiras que as pessoas fazem, coisas com que elas concordam, ou discordam, conforme.
E depois há momentos em que,
aliás, não é um "depois", é um
mas ao mesmo tempo:
a mente enche-se-me de uma vontade que não sou eu a controlar: como que uma voz que não fala mas não é a minha,
e não é uma voz, não tem som, é apenas uma vontade, uma determinação maior do que a minha,
como se ela fosse mais lógica e inegável:
como se eu por A+B não pudesse contrariá-la. Porque essa força maior mostra-me as razões com que por A+B eu tenho de me matar. Ou: empurrar aquela pessoa para debaixo do comboio. Ou: sufocar aquela criança. Cortar o braço com a faca do pão. Afogar-me na banheira.
O importante é não perder tempo:
a conclusão é agora, as conclusões não se adiam:
se 1+1 é 2, é 2 agora, não amanhã, não daqui a instantes.
E tu vens aqui dizer-me que eu não sou louco —
que apesar disto tudo eu não sou igual a uma dessas pessoas a quem há mil anos teria sido certamente dito “estás possuída pelo demónio”;
e eu gostaria de concordar contigo;
gostaria de concordar contigo porque é verdade, eu estou são de vez em quando, estou lúcido de vez em quando.
Mas não vês?
Estar lúcido de vez em quando não é lucidez, se lucidez é a habilidade para o controlo. A não ser que reconheçamos que toda a pessoa tem por vezes momentos de senilidade,
momentos de uma certa inimputabilidade, por inabilidade mental?
Eu não consigo controlar quais os momentos em que estou sóbrio e em que estou louco
— alguém consegue? —
e quando estou louco, aquilo ataca-me por inteiro, não sei quanto dura, não sei em que estado me vai deixar quando se for embora...
Não sei em que estado vai deixar o meu corpo, as minhas amizades, ou os meus pertences:
só quando aquilo vai embora fico a saber o que destruí naquele momento de loucura. Poderás dizer-me que não estou louco se isto me acontece apenas de vez em quando, como a toda a gente?
E se eu disser que isto me acontece mais do que
de vez em quando? Ao ponto de eu já não saber qual é a realidade, a realidade por quantia? Se eu estou mais tempo louco do que são, a que mundo devo habituar-me:
ao da loucura, ou ao da banalidade?
Só quem não vive uma loucura incapacitante acha que um momento bom nos faz rejuvenescer, nos faz recuperar a saúde mental. Eu digo: se depois de trezentos dias de inferno tens um dia bonito, agradável, o que significa isso? Muito provavelmente, significa que o mundo veio gozar contigo, veio fazer-te acreditar numa felicidade simples só para amanhã te torturar outra vez.
É preciso encontrar defesas mais extensas do que o mero “foi bonito”.
A loucura é um estado estatístico: é uma conclusão sólida e coerente depois de mil dias sem sentido,
depois de 10 mil dias sem sentido. A chamada saúde mental só pode ser o mesmo: uma estatística após 10 mil dias de uma qualquer rotina produtiva.
Podes dizer que eu não estou louco,
e só por isso eu por aqui continuo:
arrasto-me para aqui e para ali
conforme as pessoas — os médicos, os amigos, os transeuntes — me dizem que isto se resolve, que estou aqui porque a terapia vai funcionar, à medida que eu a cada dia me entendo menos e mais desisto de mim mesmo, de ter um corpo, de ter uma mente, de haver sentido...
Estou cansado, estou tão cansado de estar confuso…
Isso é já um inferno em si.
É já um estado de loucura: um estado em que estou constantemente
no limiar do desespero mental. Entendes?
— Respire fundo,
não fale mais. Respire apenas. Isso.
Pode chorar, se quiser.
— “Chorar”...
Só podes estar a gozar comigo.
Dizes para eu chorar como quem diz: chora, isso passa.
Eu sei que passa. Eu sei que, independentemente do que eu chore ou desista, do que eu evite ou tente, é indiferente: não sou eu quem controla, isto vai e vem, virá de novo. Sou apenas um objeto. E de que vale a pena chorar? A um certo ponto, até chorar cansa, se não traz os efeitos que é suposto trazer. Estou cansado de chorar. Estou cansado da repetição…
— Você quer desistir de viver?
...
Oiça, estou a falar consigo. Não me responde?
Você quer desistir de viver?
...
Não me quer responder?
Não faz mal, não tem de responder.
— Posso responder. Posso não responder.
É indiferente.
Aliás,
posso querer deixar de viver. Ao menos, é uma coisa que posso fazer, num desses momentos em que estou são. Ao menos assim posso ser eu a controlar, a ratificar. Acabo com tudo, o que acaba toda esta senilidade. Preciso apenas de decidir, de fazer uma soma. Gostaria de conseguir fazer essa soma… Se é maior o desejo de morrer ou o de viver. Apesar disto. Ou por causa disto.
— Oiça-me se quiser. Se de qualquer modo neste momento não pode ouvir ou deixar de ouvir, deixe-me falar:
talvez lhe seja loucura o estado em que se encontra; por cima de todos estes sintomas que o afligem, há um estado de alienação geral que o oprime, porque você não entende o porquê desta situação, e esta situação assim continuará enquanto você não entender o funcionamento deste distúrbio. Assim será:
enquanto você não entender. Para isso serve a terapia. Para ajudar a entender. Para que você comece a ver um padrão, uma frequência com que as coisas lhe acontecem, os eventos que as propiciam, com que intensidade, porquê. Você poderá ainda não conseguir controlar, mas já compreende. Compreender é meio caminho. Enquanto as suas ferramentas forem frágeis, poderá ao menos saber agendar-se: adequar-se, descansar quando é preciso, saber ignorar quando é preciso. Com o tempo você conseguirá recuperar a realidade à sua maneira, do mesmo modo que quem tem um trabalho ou agenda complicada aprende a gerir o calendário.
Para onde está a olhar?
— Para ti tudo é tão fácil...
Nunca estiveste deste lado provavelmente.
Eu li. Eu sei.
Não poderias ser terapeuta se tivesses um problema como este.
E se tivesses alguma vez tido um problema como este, não irias a tempo de hoje ser terapeuta.
Pareço arrogante ao dizer isto?
Seja.
— Nenhum sofrimento pessoal é arrogante.
É intenso, isso não tem comparativo.
Não quero dar-lhe a sensação de que é fácil.
— Que tu entendas bem o meu problema, isso não me ajuda. Não me apazigua. Não faz com que aquele autocarro não me seduza para a estrada.
— É por isso que me tratas por tu? Porque a nossa relação
aqui dentro já não mais te convence?
— Em momentos de desespero, ninguém à minha volta interessa.
Tu dizes que eu tenho apenas “OCD”, como toda a gente aqui na clínica. Mas eu sinto que não é isso.
Eu não me entendo. E ninguém me entende. Eu estou possuído pelo demónio. Pensas que eu tenho transtorno obsessivo-compulsivo, mas há um pormenor que falha. Entre mim e todos estes aqui, há uma diferença.
— Como assim? Estou a ouvi-lo.
— Ouve. Aquele rapaz, o X:
ele entra em pânico quando vê vermelho. Ele sabe que não é sangue; ele sabe que um batom ou um guardanapo vermelhos não são sangue — ele sabe isso, mas tem aquela sensação a dizer-lhe “perigo, foge!” — porque se o X não evitar o vermelho, vai morrer infetado, vai mesmo morrer;
e quando a Z toca na porta três vezes, ela quer ter a certeza de que segurou bem, de que fez o gesto certo, e se não ficou certo à terceira vez, talvez dê à terceira vez vezes três; e enquanto ela não o fizer as vezes necessárias, terá a voz a dizer-lhe “perigo, não está certo” — porque se a Z não fechar bem a porta, alguém vai entrar, vai assaltá-la, vai atacá-la, ela vai ficar paraplégica, ou vai ficar sem casa, ou vai ficar sem vida.
Com o Y passa-se o mesmo: porque se ele não ler todos os dias todos os artigos do jornal, vai ficar sem saber de uma tragédia que vai acontecer — um atentado, uma guerra, uma epidemia — que o vai assolar, que o vai fazer perder os filhos, ou a mulher, ou os animais;
e o K lava as mãos e o corpo com lixívia para se proteger do que de horrível lhe poderia acontecer,
e a M vai rever todos os aniversários de todos os amigos para ver se não lhe faltou nenhum, não vá alguma dessas pessoas nunca mais aparecer;
e se todos eles fizerem o que essa voz secreta lhes diz, tudo fica bem: o pânico atenua, a sensação de tortura dissipa-se, o mundo volta ao normal. No fundo, foi uma proteção: por mais ridícula ou exagerada que pareça, foi uma proteção.
Depois, ali, naquele canto… estou eu:
tenho uma faca nas mãos, e aquela sensação vem ter comigo, aquela sensação horrível e insuportável que diz
mata-te, mata-te já:
tens de o fazer agora, agora, por A+B;
caso contrário algo horrível
vai acontecer-te.
Repara neste pormenor: a voz não me diz
“protege-te do vermelho”, ou
“verifica isso dez vezes para prevenir o acidente”.
A voz diz: mata-te.
Mata-te; caso contrário algo de horrível vai acontecer
Só à superfície os meus sintomas são típicos: é OCD. O pânico, os rituais repetitivos, a ansiedade, as ligações obsessivas. Mas abaixo disso, há algo mais fundo. A minha mente pede-me para despedaçar a cabeça debaixo de uma roda. Que proteção é esta? Que lógica pode haver nisto? Em vez de me proteger, essa voz pede-me para eu me dilacerar, para esfaquear alguém à minha volta, para pontapear uma criança... Que proteção é essa que destrói aquilo que quer proteger?
Talvez tu queiras inserir-me no mesmo quadro porque o diagnóstico compara os sintomas. E contudo, repara: o meu organismo não funciona do mesmo modo que eles: não cumpre a parte que deseja sobreviver, a que precisa da auto-preservação. Em nenhum ponto do espectro do transtorno obsessivo-compulsivo se inclui um organismo que procura o oposto: a destruição.
Tu tens na tua frente o paciente errado. Eu sou um homicida. Eu sonho constantemente com matar pessoas, e mais e melhor se isso me colocar na prisão para lá estar até ao resto da vida. Quanto mais eu sofrer com isso, mais satisfeito eu fico; quanto mais for um massacre, melhor: o que eu procuro é o trauma, uma parcela de absurdo tão perturbadora que me coloque nos arquivos da História como um desses fulanos abomináveis. Eu quero ser um deles. Talvez eles não se incluam numa categoria, porque todos foram incompreensíveis à sua maneira; mas eu anseio por pertencer a eles: quero ser incompreendido de igual maneira, quero ser odiado de igual maneira.
Então, meu caro médico, o que tem a dizer?
Não acha melhor reconhecer que o meu lugar é na Inquisição,
pendurado na fogueira?
Não acha melhor dizer-me que eu sou simplesmente um rebelde,
um anarca, um perigo para a sociedade disfarçado de paciente,
alguém a colocar na prisão antes de eu cometer algum dos crimes
de que avisei tantas vezes?
Não: apesar de tudo isto, o senhor médico prefere dizer-me
que eu sou um paciente regular, banal,
oh nada de especial, é só OCD.
— Não pense que eu quero dizer o que você é.
Se você quiser assassinar alguém, é uma escolha sua.
Se você quiser arrancar um braço, é uma escolha sua.
Nenhuma dessas hipóteses tem a ver comigo, apenas com os seus planos de vida.
Certamente, se você deseja cometer um homicídio, este não será o melhor lugar: aqui há funcionários a vigiar todos os cantos. A não ser que você planeie cometer um homicídio aqui dentro precisamente por isso: porque se você o fizer aqui dentro, fê-lo porque estava louco, isso só confirma a senilidade que você afirmava.
Eu sei que é confuso. Você tem medos. Obsessões paralisantes. Eternas dúvidas.
Mas sabe, quem quer deveras matar não tem dúvidas.
Quem deseja mesmo morrer não precisa de ter medo.
Quem precisa de loucura para cometer um crime não o comete.
Não é por acaso que momentos ou dias antes do suicídio os indivíduos parecem mostrar uma melhoria no seu estado de espírito.
O suicídio é, muitas vezes, um momento de alívio:
uma solução que se encontra finalmente para um sofrimento duradouro —
e a isso acresce a maravilhosa excitação de o ter descoberto.
O único medo que pode haver é aquele que reside em quem ainda não está convencido, em quem tem algo a perder.
Se nos seus momentos de ansiedade há um desespero que o guia, um íntimo “por favor!”... Que grito é esse? Um grito de liberdade, de escapatória? Algo em si ainda luta por libertar-se, por proteger-se de uma coisa horrível que o sufoca.
— Que proteção seria essa que me pede para me matar
em vez de resolver o problema?
— De facto o suicídio é uma solução peculiar, fora do enunciado: não resolve o problema. Simplesmente, elimina-o. Nesse aspeto é uma solução excelente, tal como o homicídio é solução para quem quer livrar-se de problemas dos outros. Uma viagem que se faz quando as restantes soluções não são possíveis.
Mas um dia, quando você está perto do comboio e essa voz lhe diz:
tens de saltar, é urgente,
caso contrário algo horrível
vai acontecer-te
o que pode ser mais horrível do que ser colhido por um comboio?
De facto a pergunta parece absurda.
Mas será, verdadeiramente?
Pensemos: pode haver algo pior do que ser triturado por um comboio?
Talvez... uma morte horripilante e prolongada?
Um estado crónico de quase-morte por longos anos?
Uma gangrena crónica dos músculos e dos nervos?
Ou talvez seja já pior o simples desespero de ter de planear um suicídio,
quando se tem tanto medo da decisão?
Será talvez o medo de viver esse sufoco que o aflige?
Poderá, na verdade, a vida ser uma coisa pior do que a morte?
Quantas coisas são mais horríveis do que a simples morte?
Pensando bem, talvez o horror de ter de mudar de vida seja deveras
pior do que ser tomado por um comboio.
O horror de ter de mudar as suas crenças, hábitos, princípios.
O horror de ter de reaprender certas verdades básicas outra vez,
como quem volta à escola primária depois de fazer uma tese.
Se lhe fosse fácil acreditar que há outro caminho para a felicidade,
e que você merece lutar por ela, e se lhe fosse fácil acreditar que
mais do que uma específica crença ou ideologia os seres humanos
podem e devem procurar
uma vida com sentido,
apesar de todos a quem o mundo massacrou,
apesar de todas as crenças que se tinham como absolutas,
você conseguiria investir nisso?
O medo que aprendeu toda a vida,
esse medo que ajudou a alicerçar esse desespero interno,
íntimo,
é maior do que a coragem para tentar reivindicar-se?
O desespero é por vezes a maior proteção. Talvez eu achasse mil vezes melhor atirar-me de um precipício do que decidir que afinal a pessoa que eu amava não é insubstituível. Ou talvez eu preferisse morrer na fogueira do que ter de reconhecer que afinal não há deus, ou que afinal ele existe. Mudar a nossa cabeça, isso sim, dá tanto trabalho, são anos e anos para criar uma qualquer coerência que nos proteja do mundo. No meio do fracasso, da falência, não será a auto-destruição mais desejável do que a coragem de revoltar-se, de reformular-se?
reformular-se.
De facto, a biologia é o modo como as criaturas têm sido feitas nascer e evoluir, seja isso ou não contra a sua vontade. A história é o modo como as criaturas têm sido feitas lutar ou sofrer, seja isso ou não contra sua vontade. Se você acreditar que a sua vida foi feita para sofrer contra a sua vontade, talvez haja coerência em acreditar que lhe espera uma morte tão perturbadora quanto a sua vida. Nisso há uma tranquila coerência.
Mas algo em si quer viver.
Algo em si quer viver e tem medo: porque não foi habituado à ideia
de acessibilidade da felicidade. Seria uma incoerência absurda, porque até aqui a vida nunca lhe mostrou ser ponderável essa possibilidade.
Há males à espreita em cada esquina. Há horrores antigos,
ameaças novas.
Há mil modos de se defender, fugir ou vencer, mas você não os aprendeu,
e não lhe está nas suas habilidades descobrir isso.
Mas no pior, nenhuma dessas coisas terá poder
se você já decidiu que quer morrer.
Pelo contrário: se todas essas coisas o afligem, conclui-se:
você quer viver.
Se não fosse assim, você provavelmente teria poucos sintomas de medo e desespero.
E talvez a voz venha ter consigo para dizer:
estás a ver aquele comboio?
foi feito para te destruir. Salta! —
Salta; caso contrário vou torturar-te, vou dilacerar-te por dentro.
a não ser, claro, que me queiras contrariar,
A não ser que me queiras dizer:
Não, voz,
não me importo que tentes dilacerar-me,
eu tolero isso por mais que me torture,
porque eu quero viver.
Até mesmo o lado mais moribundo dos seus medos, o lado
mais macabro do desejo de suicídio e de homicídio,
é um grito por proteção. Um desejo de fuga que nem sempre é óbvio.
Afinal, tomar um belo pequeno almoço não é coisa má,
não o convida nem seduz ao suicídio. Mas se a existência
inclui também outras destas coisas como uma plataforma
numa estação de comboios, onde pessoas caem contra sua vontade,
e sofrem, e morrem, nesse caso talvez você não deseje totalmente estar aqui:
principalmente quando a sua vida lhe mostrou que coisas más como esta estão destinadas a pessoas como você.
Talvez por uma convicção antiga; talvez por aqueles
que lhe pedem para ser o que eles querem,
porque o desprezam. Ou porque o amam. Talvez por gritos
que você conhece, até sabe quais são, mas nunca ousou soltar.
Seja o que for, é crucial, é mais interno ao corpo do que à lógica:
é mais na estrutura interna do organismo, dessa parte medular
que exige o bem estar dos nervos para poder operar a sobrevivência.
Desespero que só é físico na medida em que é o próprio corpo
que o provoca, por motivos mais moleculares que a superfície.
Essa é uma parte admirável da natureza:
o seu corpo manifesta necessidades essenciais de bem estar,
um direito individual essencial, uma legitimidade própria,
de se sentir bem consigo e com a vida em que opera,
ao ponto de lhe mostrar sintomas de reivindicação, de revolta, de desespero,
mesmo para uma mente que não acredita nesses direitos
que o corpo reivindica.
Um direito essencial que tem de existir para que qualquer coisa,
esteja ela certa ou errada, possa permanecer viva:
um direito a estar viva.
Tu queres viver.
Mas tens medo.
Um medo comum.
Medo de não ter direito a [ . . . . . . . . . ].
Se algo nos é possível e permitido, mesmo que a vida nunca antes no-lo tenha mostrado, ou no-lo tenha permitido,
que permissão temos nós para pedir?
Onde se pode requerer esse direito?
Como justificar esse atrevimento?
Eu mesmo gostaria, por vezes, de saber que não há onde se o possa pedir; apenas decide-se: decide-se se esse direito existe ou não.
Nenhuma coisa que começou a existir pode saber onde
pedir permissão: no fundo, a permissão que teve foi o fazer...
Outra permissão que haja, que seja preciso, não a conheço, não a sei...
— Outra permissão para poder não se ser escravo,
para poder não ser experimento de laboratório,
para poder não ser indivíduo de espécie ou raça inferior,
ou de classe ínfima, ou de herança nociva, ou de saldo negativo?
— Se é esse o mundo em que nasceste, não será de facto melhor assumir-se como absolutamente louco e seguir o seu caminho?
Basta que tenhas a coragem para te admitires louco — louco, sim,
para fugir de todos esses horrores que a vida te deu como normais,
louco para assumir uma incoerência fundamental,
independentemente de isso poder trazer conflitos.
Reivindicar o direito à negociação:
contra as profecias, contra as linhagens, contra o destino das coisas,
assumir que não nasceste para o fracasso ou para a heresia,
que tens argumentos válidos para a fabricação de novas crenças e novos direitos
simplesmente porque os queres, tens mão firme.
O que te falta para essa loucura? Consegues ouvir-me?
Se tu me dizes que já estás louco, o que te falta?
Falta-te a coragem? Falta-te superar esse medo de não teres
autorização? Falta-te a segurança, o carinho, a legitimidade?
— Dás-me a tua mão?
— Não sei se devo. Ouve-me: estou a falar para a tua mente como quem está nela, mas eu continuo aqui, sou só um terapeuta, estou só a provocar pensamento. Não posso dar-te o afeto de que precisas; não é essa a minha função.
— Por favor, só um momento...
— Encontrarás quem o possa dar.
Eu aqui não posso...
— Por favor, agora.
Dá-me esse direito.
Por favor... Dá-me essa legitimidade.
Eu quero-a. Eu exijo. Exijo...
— Está bem. Toma, segura-me.
Está tudo bem.
— Não me largues...
Por favor.
— Está bem. Está tudo bem...
sustentabilidade
Mas depois de ele ter cortado a mão —
as mãos — e tê-las visto a arder no topo de duas varas,
e depois de se ter recolhido na gruta onde todos os dias
lhe levariam uma pequena tigela com arroz e água,
os seus dias foram tranquilos.
É uma certa coisa que se planeia; como há quem planeie
construir uma casa e ter nela crianças e animais.
Há um momento do choque, do medo, da dificuldade;
há um certo sacrifício — a parte que sua, que se esforça,
que se abstém de certos prazeres ou tranquilidades —
para obter aquilo que o mundo por si não oferece gratuitamente.
Ele ofereceu as duas mãos;
porque viveu naquele século. Noutro século,
neste aqui, ele era o pai que sacrificava o fígado e o cérebro
para dar aos filhos o que ele nunca tinha tido.
Enfim, partes diferentes do corpo que se sacrifica.
E talvez ele chegue a casa com a sensação
de que está tudo em ordem: há paz, há comida,
há higiene, há liberdade.
E contudo, nem todos esses pormenores resolvem a vida:
nem o frigorífico, nem os sensores, nem os recibos;
do modo que noutro século nem tudo em volta resolvia tudo:
nem a caminhada, nem a ferramenta, nem o pergaminho.
A faltar:
a razão fundamental para a violência de teres nascido, e
e os recursos a usar para resolver isso.
Nesse tal outro século, antigo, a vida dele durou pouco:
depois de alguns anos, foi enterrado vivo, numa posição de asceta,
para poder morrer do modo mais digno possível.
Não que tivesse de ser para já, mas ele sabia
que a determinado tempo teria de ser.
Como este outro, que neste recente século assinou o testamento
para deixar aos netos a morte mais útil que lhes podia oferecer.
Não que tivesse de ser para já, mas ele sabia
que a determinado tempo teria de ser.
Alguns séculos no futuro, talvez nem tenha de ser:
ninguém tem de ser enterrado vivo ou morto,
e poderá continuar a ser quem é eternamente.
Num desses dias sem prazo, uma criatura senta-se e pondera
certos problemas da logística: do desejo, da frustração,
do desespero, do fracasso, da responsabilidade,
da falta de regalia, do planeamento, do sacrifício.
Não que tenha de ser para já, mas porque sabe que
a determinado tempo terá de ser.
Algo estranhamente necessário para colmatar
uma inevitável falta de omnipotência.
De modo que uma popstar, um asceta,
um diplomata e um ciborgue continuam a ter de recorrer
a certos métodos da logística:
um certo modo de avaliar o que é mais importante
e estruturá-lo na extensão do calendário.
Uma certa sustentabilidade,
se "sustentabilidade" for o modo como
uma coisa consegue os recursos para manter
uma ideia com sentido.
É quase inabarcável a diversidade de vidas
que as épocas permitem aos indivíduos...
E eu que pensava que a modernidade era um só modo,
o melhor, o mais atual, de estar vivo.
Quando afinal, no fundo, tudo não passa das
logísticas possíveis com que uma coisa define
que é, que consiste, dependendo
do nível de satisfação com que certas soluções do envolvente
lhe permitem não ter de ponderar,
ou não ter de pensar em ponderar,
outra hipótese de si mesma.
dois pombos
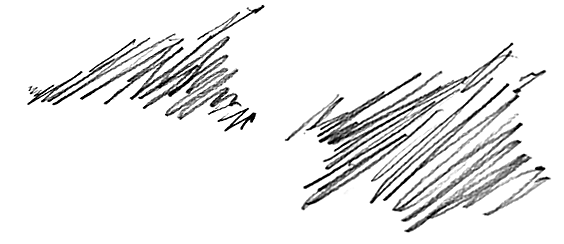
Na estação, dois pombos perseguem-se.
Um deles raspa a cauda em leque no chão, o outro foge.
Pelo que sei, estão num ritual de acasalamento. Aliás, pelo que penso que sei. Já li sobre isso, mas não posso saber se isso é mesmo verdade porque não tenho o saber empírico de um investigador. O investigador, se observou ele próprio, fala porque viu. Eu só posso saber porque alguém diz que viu. É certo que posso tentar ver eu mesmo; mas se não tenho meios para isso, ignoro-o, ou acredito.
Talvez se possa mesmo dizer que eles fazem um ritual para acasalar, ainda que eu apenas assim tenha ouvido, se depois disto verificar que eles estarão de facto sexualmente ligados. Mas qual o motivo de aquele ritual ser convincente, para um, para outro, para acasalar, não sei.
Claro, o simples facto de se conseguir fazer uma coisa melhor do que os outros já é um motivo: conta já como capacidade, mesmo que tenha utilidade pouca. Quem consegue dar um mortal para trás ou dizer a frase mais elaborada faz o mesmo: não é necessariamente útil em qualquer preciso contexto. A não ser para quem precisa ou aprecia precisamente aquilo.
Mas qual a utilidade de se conseguir roçar com a cauda no chão?
Talvez para dizer: tenho tanto material nas penas que por ti gasto algum.
Ou talvez: migalhas no chão que procuras, eu ajunto.
Ou: a minha cauda é larga, é bom amparo. Para quando queres descanso. Para proteger da chuva. Ou talvez: se o meu corpo é perito a fazer isto, imagina o que não conseguirá noutras coisas.
Não sei se de facto o pombo abordado está interessado nas habilidades do outro. Ou talvez ele tenha um gosto mórbido por esse andar de gente com casaco longo rente ao chão (pelo menos assim me parece, vendo os humanos aqui em volta), e aceite o ritual. Se é possível que os humanos tenham obsessões, os animais também terão? Não que se procure humanizar os animais com desejos humanos. Mas a partir do momento em que se considera uma coisa como patológica, como erro da biologia, qualquer criatura biológica poderá tê-la. Mesmo que em termos de paixão a vida dos animais não possa ser estudada. Para isso seria preciso aceder talvez não aos seus comportamentos, mas à sua literatura. E a literatura é uma coisa que só se aprecia dentro da sua própria espécie: algo que, se retiradas todas as emoções, todas as fantasias e todas as impressões corporais, conta apenas como meros rituais vistos do lado de fora.
Depois de tanto tempo sem sucesso, ou mesmo em caso de sucesso, restará saber se cada um dois pombos, assim como quaisquer humanos, encontrará com aquele gesto aquilo que secretamente procura. Não sei se de facto algum deles estará a desfrutar deste ritual. Do roçar das penas, do caminhar errante, da sensação de insistência.
Mas eu, observando, apreciei, não sei porquê. E tirei sensações para mim. E quis dizer sim.
cinema mudo
… mas então disse assim, e foi a última coisa que disse: eu confesso!, queria estar nu contigo e fazermos brincadeiras de criança; não é sexual, é apenas porque o meu pai assim me fazia: ele agarrava-me em certas partes do corpo, era tão horrível... Gostaria de poder ter uma amizade assim, ouve — em que temos cada um o nosso corpo e afinal ninguém nos vem agarrar. É um ato de exibicionismo? Talvez seja, mas também podes exibir-te, afinal eu não vou atacar-te nem invadir-te, vou apenas aceitar o corpo que tens como amigo que és — quer sejas bonito ou feio aí por baixo, entendes? Se eu gosto de misturar comida com oração, é porque aprendi a gostar da posição vertical que fazemos quando rezamos: isso até me ajuda a pensar enquanto como: ajuda-me a imaginar, a sentir os sabores da comida como viagens que se faz com a mente, ao invés de ração que se come como um cão oprimido que tem de comer o que não gosta que o alimente... Talvez tudo isto te repudie; eu assumo que apenas rezo por causa dessa posição da coluna que me faz sonhar leve; que apenas gosto do banho por poder mostrar o corpo sem que ninguém o agarre; que gosto do teu corpo porque ele faz-me favores, é doce; e porque esse corpo me faz esses favores quando eu não prevejo e de modos que me surpreendem, suponho que ele seja inteligente, que tenha uma alma não apenas mecânica: e se tu és ela, eu gosto de ti, gosto de estar contigo...
Assim falou. Mas o outro não ouviu — ou se ouviu, continuou o que fazia, indo pela fresta e sem dizer se voltava, pelo menos nesse dia. Daqui, vendo-o ir embora, uma dor ficava, mas é certo que não se quereria que o outro ficasse apenas por mal-entendidos. E mesmo que ele não mais voltasse, tudo estava tranquilo. Porque agora tinha ao menos tentado, pela primeira vez na vida, uma honesta, uma digna, uma gratificante, disponibilidade.
[ Fim ]
_________________________________
" P O R U M A F E N D A "
Argumento: Joseph Durier.
Realização: Ann Ling Do.
Produção: Bassak Niare Arindes.
Fotografia: Nar. J. Duon
Cenografia: DeVega.
Guarda-roupa: Murani Bianni.
Arquitetura: Belle Luande
Música: Sophos O'Kasramus
Iluminação: Amir Bassilide
Homem 1: Mirados Apokaitos
Homem 2: Enair Santos
Rapaz: Mil Bon Dos
Rapariga 1: Carry Omar
Rapariga 2: Ileva Nipova
Adulto: Nadir Anedes
Amante: Songoi Ubur
Crianças: Ali Ade, Verani Jeux
Fotógrafa: Racine Amentar
Transeunte: Lovar Donov
Sais de uma história e olhas para outra.
Assim é o acabar de todo o filme.
Há quem não possa deixar de ser o filme de si mesmo.
Mesmo depois de todos os filmes que vês.
Em todas as casas há as mesmas palavras.
Não é por um filme ser teu que tens exclusividade.
Uma caneca parte-se igual em todo o lado.
Todos os filmes são semelhantes em certo ponto,
e choras pelas mesmas cenas.
Mas repara: hoje viste palavras para... aquilo...
Uma coisa que ninguém dizia: que não havia, talvez,
em nenhuma casa, exceto na tua. O que indica
que, no fundo, só o teu destino o merecia.
Por algum motivo, tu o merecias.
Por mais filmes que se veja sobre a dor,
quando se sofre é-se absolutamente analfabeto.
Os livros, os filmes, não salvam;
tudo é apenas uma bela inocência
declamada no depois.
Mas nada disso chega a fazer total um vocabulário.
São as coisas que não têm palavras
as que levas contigo para a morte.
O que poderias dizer tu, agora, aqui,
sentado a uma mesa, sobre tudo isto?
Certo vocabulário, a vir ainda,
já veria tarde. Os sentimentos já aconteceram
primeiro, e foi há muitos anos.
A jovem vem. Paga-lhe a conta.
“Fui ver um filme”, querias dizer.
Mas pareceria descabido.
Talvez ela nem saiba do que falas,
ou nunca sentiu algo sobre isso.
E no fundo a literatura é usarmos todos,
durante o dia, todos os dias,
as palavras comuns.
terça feira
(obsessivo-compulsivo)
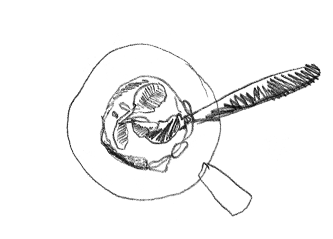
Eu sei que é só uma doença. Entenda-se: o meu cérebro tanto me serve a mim como serve outras coisas que me são vedadas e alheias. Afinal, qual o propósito da biologia? A finalidade deste corpo é eu? Ou talvez a minha alma seja apenas um efeito secundário deste organismo que sobrevive por razões de outra ordem?
Sei que sou eu quem decide se este corpo continua vivo. Sou eu que o alimento ou que decido não mais o alimentar. A não ser, claro, que eu apenas consiga fazê-lo se este organismo o permitir: se ele decide deixar-me fazer o que quero ou se me força a outras coisas conforme aquilo que os nervos, os músculos ou as hormonas me obrigam.
Que pensamentos são estes que estou a ter? São meus, ou são dele? Se penso em matar-me ou continuar a viver, isso significa que tomei uma decisão? Ou então eu estou só aqui, sentado num café, a deixar as ideias passar, sem ter poder sobre elas?
Observa isto. Há dois tipos de pensamento: os que fazem o corpo mexer-se e os que apenas ponderam. Não sei como um e outro atuam dentro da cabeça; posso imaginar pegar nesta chávena com todo o realismo e cronómetro e ainda assim não lhe peguei; mas depois tenho vontade de beber, imagino que levo a chávena à boca — e faço-o antes de dar por isso. Quem determina a ação do cérebro que só imagina e a que mexe de facto? São duas coisas completamente diferentes, certamente com duas moradas completamente remotas na cabeça, e nem sequer são vizinhas.
Afinal, eu estou aqui sentado a pensar em suicídio; não é nada de mais, já estou habituado: tenho transtorno obsessivo-compulsivo auto-destrutivo. Tenho-o há muitos anos, sei-o há muitos anos. Há muitos anos, uma parte do meu cérebro tornou-se obcecada com suicídio e pensa nisso constantemente — o meu cérebro pensa nisso constantemente, quer eu o queira quer não. Ele não perguntou à minha alma se quer matar-se: viciou-se nisso sozinho, em segredo, sem a minha opinião; especializou-se com certos processos fisiológicos do medo, do desespero, do pânico, da depressão. Tudo se passa nos bastidores da minha mente, fora do meu aval ou da minha posição quanto a isso; e eu não sei se ele faz isto como utilidade à minha pessoa ou como utilidade a este organismo que eu habito, por motivos e efeitos que a mim enquanto alma não interessam.
Sei, não dá para separar as coisas. Eu sou o meu corpo. Mil pensamentos que temos na parte de trás da ideia não são nossos conscientemente e ainda assim são nossos. Medos nossos, esforços nossos, análises nossas, adiamentos nossos.
É meu, portanto. Mexo uma chávena; sinto que neste momento esta é a única parcela do meu cérebro que eu consigo controlar: a parte que dirige a mão numa chávena. O resto, esse resto do meu organismo, já há alguns dias que não para de laborar ideias de falecimento: atenta no modo como as pessoas vivem tão naturalmente sem conseguir decidir subitamente parar de viver; repara como o organismo nos pede água e fome e sono, faça parte dos nossos planos ou não; observa os mil modos com que a esperança renasce e se destrói lá nos bastidores do pensamento antes de nós percebermos os seus efeitos; atenta na luz da manhã e no vazio da gare ao ponto de se sentir mais perto da parte vazia do cosmos do que da parte cheia; observa uma chávena de chá e consegue não ver ali nenhum momento, nenhuma epopeia, nenhuma história.
Enquanto eu bebo esta infusão de hortelã — e eu adoro hortelã — o meu cérebro pensa que se a hortelã não existisse e eu também não, nenhuma parte sentiria falta da outra — logo, não têm razão de existir. E que eu poderia ter-me suicidado há 15 anos e ser hoje uma degustação de momentos triviais que não chegaram a acontecer entretanto — afinal, era isto o meu futuro? Que a dor de morrer será menor que a dor de querer morrer: afinal, querer morrer, isso sim, é um ato doloroso. E enquanto eu engulo a hortelã e sinto que não quero morrer, o meu cérebro diz que não, que todos estes pensamentos são já processo de um só destino: o suicídio, porque ninguém que quisesse viver estaria a pensar na morte com tanto investimento dos neurónios, com tantos poros, com tantos pormenores ativos. Verdade seja, ainda que eu não queira morrer, sei que em todo o caso não aguentarei a vida toda assim com esta doença. É uma vida demasiado cansativa, demasiado confusa, ao ponto de eu nesse caso preferir realmente deixar de existir. É isto uma escolha racional? Uma escolha que eu posso fazer com a parte sã da minha mente? — Se o é, por que razão ainda continuo aqui? É porque ainda não perdi a esperança? Ou é porque já nem isto me está no controlo, porque o meu corpo decide quando eu vivo e quando eu morro e coloca-me em situações de perigo só para me fazer perder a sanidade? Afinal, se eu decido que é preferível cometer suicídio a viver assim, será este um dos pensamentos razoáveis da minha mente, da parte saudável da minha mente, ou mesmo estas conclusões são ainda assim um sintoma refinado do mesmo transtorno, pedindo-me sempre, direta ou indiretamente, impulsiva ou racionalmente, para cometer suicídio? Sou talvez refém de uma doença que me faz acreditar que quem pensa sou eu, quando na verdade é ela que controla e eu só assisto... Só assistir: eis a maior tortura. É essa a perversão maior que pode acontecer a qualquer pessoa — às muitas pessoas que, por infelicidade do seu destino, morrem sem ter percebido a razão do seu nascimento, sem ter visto na epopeia da sua vida mais do que sufoco e horror, a ponto de achar preferível nunca ter nascido. Como quem foi convidado para uma festa sem saber o verdadeiro motivo, e concluindo afinal que, se soubesse o seu conteúdo, nunca viria. Ser feito assistir sem poder decidir: como ser feito vítima de um violação ou de um incêndio, de um massacre ou de um infanticídio: e ter sido aqui colocado para só assistir a isso, sem poder rebelar-se ou evadir-se. Apenas isso: assistir. Assisto à minha mente a brincar com ideias de vida e de morte, erro e acidente — todos os dias, quando me levanto, quando me deito, em momentos vários no meio. "Queres um chá?", diz-me o meu corpo, deixando-me ser eu a pensar nessa ideia; mas é ele que vai à frente e decide beber o chá — por hábito, porque é uma ação fácil e não exige pensamento, porque sempre é tarefa ao braço e só o cérebro está no desespero; mesmo o suicídio é uma atividade complexa, requer plano e materiais, eu sinto-me demasiado cansado nesta cadeira para fazer o que seja. Desisto de pensar, estou em fase de curto-circuito, à beira do colapso; bebo como quem de doente não consegue mais do que beber, apático — a mente já nem saboreia a hortelã, está já cansada, avassalada por suicídios que podem acontecer hoje ou não (eu não sei, não sou eu quem decide) — incapaz de pensar em vida ou objetivos, em deveres ou pretextos, em luxúria ou sentimentos, em esperança ou humanidade.
Decerto, vou passar o resto do dia assim: deitado na relva de um parque, ou sentado noutro café, noutro, e noutro; algo que me permita estar parado muito tempo, sem ter de fazer, nem de pensar, nem de falar; apenas abster-me, estar em estado de choque por dentro mas ainda assim, por algum motivo, parcialmente funcional: nos braços, nos pés, nos bolsos; estou cansado, e não sei qual o melhor lugar para permitir o corpo deixar de mexer. Mas em todo o caso, não sou eu que decide o que vai acontecer a seguir. O que o corpo quer fazer, ele faz, ele sabe isso; sem eu conseguir dizer "sim" ou "não" ele levanta a chávena e faz-me beber um último trago de infusão, num café de uma gare de uma terça feira; e ele decerto planeia continuar, numa permanência a que só por consequência secundária se chama vida ou sociedade, quando afinal ele se dirige para onde eu não sei, numa secreta e absurda rotina que afinal ainda não está perto de terminar. Não sei se fico feliz ou triste por isso. Mas enfim, há hortelã no entretanto; isso, pelo menos, dá pormenores ao momento: algo com que eu me entretenha enquanto tenho de continuar presente, existente, assistindo a isto.
crepúsculo de um cão
Eles correm de um lado para o outro, e eu acho divertido vê-los: quase como se eu fosse um deles. Sei essa excitação de correr depressa — não importa qual o motivo, porque com a velocidade os assuntos ficam para trás — e passando por este indivíduo e por aquele o meu corpo diz: anda rápido, eu mais do que tu, ou não? Que foi, não ouvi — vem atrás de mim, deixa isso para trás.
Olha: ele dá uma volta inteira ao campo, faz um arco e regressa como quem tem pressa — não veio dizer nada, apenas afastou-se para poder aproximar-se, pela esquerda, pela direita, por trás. Não trazia mensagem, afinal este texto não tem assunto — e então? Corro mais veloz do que tu, deixa morder-te o rabo, foge de mim, ou apanha-me, não interessa.
Gostaria de ser um deles, tão livre assim a correr pelo relvado: sem pensar demasiado se o corpo que tem é suficiente, porque se pelos vistos corre assim atrás ou à frente dos outros, é porque faz a função; mas e se eu quero correr e corro, não é isso é sinal de que o corpo funciona, ou de que a minha fantasia está adequada ao corpo, de modo que não sinto falta de patas para um salto ou um voo de que não preciso?
Ah, ser tudo o de que preciso... Se é ou não, não sei; afinal aquele cão corre mais do que eu, mas não faz mal, é mais desafio ao meu coração, é mais estratégia para para o jogo.
Um desses cães vem ter comigo: gosta de mim mesmo antes de me conhecer, porque à partida vou tão facilmente dar-lhe o que ele recebe de toda a gente: umas festas, uns afagos, um cheirar de corpos para morder ou para trepar. Vejo o dono está ali, olha-me como quem não quer nada. Não quer nada: apenas vigia o cão, sabe que estamos os dois em bom momento. Pareço criança autorizada porque ele decidiu que não faz mal.
Não sei se seria assim tão fácil fazer amizade com esse dono quanto com este cão. Não teria de ser este; qualquer um daria para o efeito; mas escolho este porque gosto do pelo: posso afagar como quem se diverte a pentear erva, e ele não se importa, porque gosta disso; e eu não tenho de ter uma razão, e ele não tem de se sentir lisonjeado, nem envergonhado;
é uma espécie de ausência dos motivos que une ali aqueles donos e os seus cães: eles compreendem-nos, sabem que eles precisam de correr, saltar, sociabilizar, entrar em contacto com outros cães mesmo que não haja necessariamente um plano; correr para aqui e para ali sem ter um destino, roer e fingir roer sem ter necessariamente fome. É uma suave abertura ao devaneio que aqueles donos, conversando uns com os outros, exercitam, vigiando aqueles cães mexendo ao acaso, mas sabendo que isso, mexer ao acaso, é necessário, é importante.
Gostaria de ter ali um cão, mas não tenho. Sei que estou apenas ligado a este que me lambe enquanto aqui está, mas depois vai e esquece-me. A não ser que eu fizesse algo; por exemplo,
tirar uma pequena faca da mochila e afagar o pelo com ela: interromper a pele do cão ao ponto de ele não mais saber o que se passa; o dono ver o sangue e ficar em choque; isso, um daqueles momentos de horror que de repente interrompem a tranquilidade e marcam uma data na biografia. Imagino o resto: a polícia chegar, os transeuntes em choque, eu ser preso, afastado dali; e talvez no futuro vejo de novo aquele dono, porque temos de depor em tribunal; e talvez um dia eu irei vê-lo ali, de novo, com o seu cão, outro cão, e os outros cães, e os seus donos.
Será a mesma cena como a de início: eu, solitário, ali observando os cães, divertindo-me vendo de longe, invejando-os. Invejando não ser um daqueles donos, tranquilos, com o seu momento ritual num fim de tarde. Continuo a não conhecê-los. Mas agora, sim, contra todas as diferenças, estamos ligados. Eu estou ligado àquele dono, dei um episódio forte ao seu destino, e isso incluiu o meu. Não o episódio mais belo ou mais agradável; mas por vezes são as tragédias que nos unem mais intensamente, e quer ele me despreze ou me odeie, sei que lhe reclamei emoção, fosse com razão ou com total falta de assunto, e isso enriqueceu o meu destino, e eu não me senti tão sozinho.
um sonho
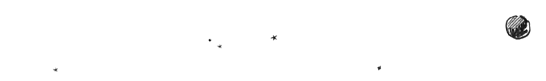
Um miúdo levanta-se. Como num sonho: mas está acordado.
Viver é sonho, nele tudo o que fazes é igual. Mas mesmo os sonhos, como na vida, têm procedimentos, há certas coisas que resultam e que não resultam.
Em todo o caso, tudo começa com o pensamento. Do pensamento não há censura. É a sua vantagem: não faz barulho, não acorda alguém, não tem consequência. É a sua desvantagem: não tem consequência. Por isso, depois de haver pensamento é preciso haver iniciativa. Uma forma de solidificar a hipótese. Isso é outra fase de um sonho noturno: a do experimentar.
Mas quando se experimenta, é-se inocente. Por exemplo, experimentas tirar aquilo da gaveta: não tem consequência. Olha: tiras e pões. É igual, vês? Aquilo volta a estar. Tirar ou não tirar é igual; no fundo onde aquilo está é indiferente: pertence, na mesma, à gaveta. Sair e não voltar, isso já é diferente, ainda que seja um mero acidente, porque a coisa continua a lá pertencer. Mas em termos de sensação, é diferente em possibilidades: as do acontecer.
Ainda assim, quando algo acontece, és inocente. O objeto podia estar perdido por entre outras coisas. Ou um animal poderia ter tirado, ou alguém arrumado noutro lugar. Seria tua culpa? Poderia ter sido só acaso. Ou alguém parti-lo por descuido. Perante isso, levá-lo contigo é igual: no fundo, aquilo tem de estar nalgum lugar. Quis o destino que fosse para as mãos do rapaz. Aliás, ainda bem que o miúdo achou. Está seguro, não houve perigo. Vês? Pior seria se alguém o roubasse — isso sim, seria problema.
Mas mesmo que alguém o roubasse, não seria problema absoluto. Afinal, um objeto só se usa de vez em quando: a maior parte do tempo está em desuso, não interessa quem é proprietário, não precisa, não lhe faz diferença. Possuir e não usar, isso sim, é uma desadequação das coisas. Usar uma coisa é dar-lhe utilidade: só isso justifica o facto de aquela coisa existir. Daí que, mesmo num sonho, a única utilidade que pode haver para uma coisa é ela acontecer.
Mas quando uma coisa acontece, não se sabe exatamente qual era a função. Como nos sonhos: certas coisas acontecem e não fazem sentido. Qual seria a utilidade para um determinado momento, ou para uma certa personagem, ou para aquela ferramenta? No fundo, a única função que as coisas têm num sonho é o que se lhes calha fazer. Isso até vai além da forma: não é por ser redonda que uma coisa tem de ser bola; não é por ter lâminas que tem de cortar. Se aquilo é de metal, não pode na mesma ser suave? Ou se é de esponja, não pode na mesma ser imponente? Afinal, se um corpo nasce assim ou assado, que função é a desta parte ou daquela, se não há sequer manual ou restrições? E o próprio facto de as coisas nascerem, de um seu modo muito especial, não indica o destino, nem a finalidade: apenas, que houve material necessário para aparecer o que aparece — como nos sonhos há espaço e tempo para surgir o que surgir.
Enfim, nada de mais se passa; e a noite, afinal, é igual a qualquer sonho. Coisas que acontecem, e ninguém as sabe, e ninguém entende; assim é — e é assim que faz, o rapaz e o objeto, enquanto há a noite, enquanto o sonho permite.
confidências
… esta semana houve duas tentativas de suicídio aqui na clínica. E uma tentativa de fuga.
— Mas nada chegou a acontecer. Não se preocupe. Os pacientes aqui são vigiados constantemente. Estamos aqui para vos garantir a segurança.
— Isso quer dizer que quando eu quiser suicidar-me terei de escolher uma maneira que vocês nunca conseguiriam prever...
— Sei que é assim que você se sente: que mais cedo ou mais tarde vai matar-se. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa. Você é vítima de transtorno obsessivo-compulsivo, não é um suicida. Pessoas como você podem acreditar que se vão suicidar, mas isso não acontece. As estatísticas comprovam-no.
— Nesse caso, isso significa que na pior das hipóteses eu nunca conseguirei sair deste inferno... Enquanto que Se o suicídio me fosse possível, ao menos eu ficaria feliz por imaginar essa saída.
— A nossa meta aqui dentro é que ninguém queira imaginá-lo. Todos aqui estão num tipo de inferno comparável ao seu.
— Mas se vocês sabem que eu não me irei matar, então por que razão estou eu aqui dentro?
— Você ainda está demasiado frágil. Se neste momento voltar lá para fora, vai facilmente voltar ao estado mental com que aqui entrou. Queremos garantir a sua tranquilidade. Aqui você tem tempo para se restabelecer.
— Entendo. ... Nunca pensei que me fosse tão tranquilizador estar guardado no meio de suicidas.
— Ninguém é potencial ou improvável suicida. Todos estão vulneráveis à meteorologia. Como toda a gente lá fora.
proto-
ulysses
O assunto:
deve haver — há certamente — um equilíbrio para a capacidade muscular
das espécies. Uma medida de cansaço diária, nem menos nem mais, que lhes permite o empenho de estar vivas. Falo de todos os gestos que exigem energia em todas as coisas que se movem: inclui o acto de pegar neste texto e ler, e segurá-lo entretanto, e os demais actos que incluirás após e em contínuo até ao sono. Entre o desabrochar e o cambalear haverá uma relação matemática entre os assuntos a resolver no universo e a lista de quantos o organismo consegue cumprir. Caso contrário estaríamos perante o insucesso da sobrevivência; isso, ou o tão desejado paraíso, a isenção que nos permitiria o eterno ócio.
Deixa-me ser mais claro: quando falo de uma medida do esforço biológico, não digo uma medida ideal ou preferencial. Aquilo que as espécies escolhem como nível do empenho não depende só da sua capacidade média, mas também da paixão: das ambições, da impaciência, do momento que lhes pede uma tarde aborrecida ou uma demanda contra o inimigo. Fazer guerra ou construir uma cidade implicarão um esforço estrondoso, superior à rotina: mas o êxtase é certamente avassalador e justifica o extremo, pelo menos enquanto essa paixão persiste.
Nos primeiros tempos bíblicos, talvez se acreditasse que Deus pedia aos humanos uma medida leve de trabalho — aquele que paga o prazer de estar vivo — e depois dela o merecido descanso. Face à posterior atribulação dos horrores do mundo, seguir Deus tornou-se um caminho tortuoso; mas a santidade, nas palavras desse deus ou dos que lhe descobriam o segredo, não era nem tortura nem sacrifício: antes uma leve alegria que, quando praticada, fazia desaparecer os conceitos de obrigação e cansaço.
Se tu tivesses de definir — tu — o balanço entre empenho e repouso, qual seria? A fatia
exata de paixão, tensão e usufruto. Qual a matriz intrínseca ao organismo? Afinal, o mundo dá trabalho: convém sabermo-lo previamente para não sofrermos de desilusão. Sociedades inteiras instauram o seu rácio do empenho, mas isso nunca é categórico nem consensual. Se a dado momento tomamos por base trabalhar 8h por dia (e já foi mais, e já foi menos), tal é por peso do compromisso: o manancial de negócios que se requer numa civilização e, daí, o suor necessário. Ou indica talvez o esforço que um magnata exige a cada submisso para poder ele próprio ter uma vida aristocrata.
Tal problema não faz parte da agenda das andorinhas ou dos leopardos. Mas imagina: ter de caçar insetos doze horas por dia ou trilhar 70 quilómetros para a próxima caçada: será que compensa? O deus que fez os animais também pensou nisso? Um quociente de esforço para a sobrevivência definirá o quanto as espécies estão satisfeitas por ser quem são. Cientificamente, não temos como sabê-lo. Podemos apenas olhar em volta e ver as que estão por aqui, o que indica:
as com aparente lucro em continuar.
(Isso é decerto um valor peculiar, até admirável. Imagine-se: a quantidade de criaturas que, na pior das epidemias, na mais pobre das eras, na mais violenta sociedade, viu motivos para continuar.)
Desculpa; devo fazer aqui uma retificação. Estou a falar de aspetos gerais, escalas grandes de investimento e retorno, mas na prática quero ser mais preciso. Quero falar-te de uma régua mais curta das coisas, classificável em medidas mais pequenas do que o largo conceito de empreendimento. Falo de uma métrica mais próxima das tarefas simples, das atividades curtas que executamos hora a hora ou minuto a minuto.
De certo modo, o ritmo como habitamos o mundo cumpre uma escala, como num horário divino. Eu tomo o pequeno-almoço: café, torrada e framboesas. É já uma vigésima parte do meu dia, é já uma parte do tempo e energia que aplico para fruir um certo prazer — torradas e framboesa —, o que de certo modo corresponde à vigésima parte do paraíso da eternidade, caso ela exista.
Milton, o poeta, no seu Paradise Lost, escreve:
E assim no Céu, sobre a esfera coberta de estrelas,
Eles passaram as suas horas de canto e júbilo.
Eles, os anjos, “passaram as horas”. Ocuparam a eternidade com algo que preencha o tempo. Será que no paraíso existe a ideia de esforço? Ocupar o tempo: torná-lo ativo. Com que impulso da ação, com que reservatório de combustível?
No fundo, tudo numa cidade está dividido em pequenas partes: em vigésimas partes, digamos assim, cada uma com esforço e significado. Eis um tipo de ritmo que acontece de hora a hora, ou de vinte em vinte minutos. No meio dessa epopeia, talvez eu considere agradável — ou até justo — poder descansar em pedaços de vinte minutos. Apreciar um café depois de ir a uma repartição, meditar junto ao rio após uma tarefa cansativa: só para eu poder equilibrar o diafragma da velocidade, sentir que a vida flui sem eu estar aflito a ter de resolver tudo.
Há um outro livro épico, e este ocupa 24 horas: é o Ulysses, de Joyce. Esse, sim, tem o fluxo ponto-a- -ponto do cosmos: as ondulações praticadas pela mente na jornada do instante. Mas se nesse livro as personagens se matassem a trabalhar o dia inteiro, não haveria livro. Não haveria os mil episódios da odisseia do pensamento. Mesmo a atribulação tem uma receita sensível, a que lhe concede a parte mais dourada da definição de atribulação: ser azáfama constante que, embora azáfama, não é conturbada por sufoco ou excesso: porque vem do embalo suave do universo, ele que já cá estava e sabe tratar de si.
Ainda assim, devo corrigir-me de novo. Na verdade, sinto que a escala de que quero aqui falar é ainda mais pequena. Talvez nem no livro Ulysses ela seja encontrada: é mais estreita do que os fenómenos a que chamamos enredo. É uma escala microscópica que, para ser exato, está abaixo da humanidade: abaixo das coisas a que damos nome, mais prima do milímetro-a- -milímetro, do segundo-a-segundo; mais curta do que a duração do pensamento, inferior à duração média das frases ou à lista de tarefas simples em que a mente pensa quando pensa.
Observa, por exemplo: o acto de pousar uma colher. A distância que o gesto perfaz. Do início... ao fim. Toda a distância é jornada: tem percurso de exato valor e potência. O impacto que acontece: o requerido para dizer fez-se, foi, mais do que mero equívoco dos volumes. Isto é talvez a escala dos insetos, das poeiras, dos mícrons, das impressões que nos vão diretas ao instinto. É uma escala de mais pequena para a nomearmos ou perdermos tempo com ela.
Mas podemos. Tu podes; eu posso. Posso averiguar a rapidez necessária para que o choque da colher na mesa se sinta. Se esse impacto indica o sucesso do acto (pousar colher), ele terá de ter um valor real, mensurável. Caso contrário, a não haver esse toque, a não haver um sinal físico detetável, para que serviriam os sentidos? O corpo regista os mil eventos que formam a textura do instante; nós não precisamos de sabê-lo porque o corpo avalia sem notarmos. É matricial. Só assim posso continuar uma conversa sem verificar que estou ou não em desequilíbrio. Só assim saberei haver pousado a colher sem ter de olhar.
Analisar esta escala é difícil. São problemas de outra natureza, ativam outras zonas do organismo. Os olhos e a parte consciente do cérebro são de mais racionais para entender o processo. Já me certifiquei vinte vezes de que pousei a colher, — porque é verdade que já não preciso dela, terminei assunto — mas algo bloqueia a mente e não consigo passar daqui. A esta escala, tudo é abstrato: os detalhes carecem de sentido, fico sem saber para onde ia o braço ou qual o melhor lucro em pousá-lo aqui ou ali. Talvez isto pareça uma cena de Beckett, mas não é por exercício literário que me vejo prisioneiro neste instante. Na verdade já perdi demasiado tempo, já deveria ter pousado a colher. O tempo para pousar uma colher: se eu sinto que não acertei no prazo, como fazê-lo de novo? A mão espera porque não sabe: perdeu o impulso, já passou, precisa de um novo para a determinação. Mas eu não o sinto, não sei como ele vem, o impulso. E a colher espera, mantém-se em pose intermédia, suspensa, à espera de um destino que a confirme.
No ideal eu gostaria de imaginar uma coisa e, após inspirar fundo, fazê-la e pronto. A saúde motora é certamente essa: seguir o fluxo do pensamento, esquecer o anterior quando está findo. O mundo ser do ritmo do pensamento: eis uma condição básica para a motricidade. Se há uma precisão para a habilidade do movimento (aquilo a que se poderia chamar domínio do corpo), quando começa ele, quando acaba? Um bailarino que estuda o instante ideal para levantar a perna: sabe como o faz? Quanto tempo elaborou nisso? Eu quero, quero fluir essa exatidão, e contudo não sei se fiz bem a tarefa, não houve o impacto que serve de aviso aos restantes materiais da sala. Também não sei se carreguei no interruptor com suficiente firmeza: haverá uma descarga ínfima na corrente elétrica que falte ainda eliminar? Não sei se vesti o casaco nesse modo que melhor afina o alinhamento do ombro. Tudo requer treino, perícia, é trabalho de mais para a agenda de um simples dia.
A perfeição do movimento: tal certamente não existe. Um máximo só alcançado em dias rituais, na reza, no casamento, na homenagem. A tranquilidade perfeita de um monge recluso ou de um monarca assistido por múltiplas mãos no aparato do dia a dia. Algo que é ponderável, possível, pleno, mas requer tempo e planeamento. Na vida comum das espécies, sejam quais elas, os comportamentos são por natureza reações, imprevisto: não podem ser polidos nem desenhados com ideal performático.
“Nesse caso”, dirias tu, “porquê tanto relevo numa colher? Porque não a desprezas simplesmente e sais casa?”
Eu tentaria; mas conseguirias tu fazê-lo se ao sair de casa notasses aí um perigo iminente? Um cabo a soltar-se, uma chama a despontar, uma fenda a ruir? Ah, sei que nada disso implica a colher, mas ouve: de facto não sei que mal estará para acontecer, e em teoria é nada, mas eu sinto. Sinto: sintoma, alerta do instinto. Quando largo a colher vem-me ao braço um arrepio, uma espécie de pânico dermatológico a dizer que algo está mal, logisticamente mal, do mesmo modo que está mal uma agulha perto do olho ou uma criança dormindo no carril.
Isto acontece-me todos os dias. Não sei como travá-lo, apenas sei que acontece. É de mais impulsivo para eu conseguir controlá-lo. Não seria descabido pensar que esta pérfida escala, este patamar abaixo dos impulsos, é herética. Quero dizer: o mal teológico, se é da dúvida a meio de uma vontade que surge o desejo de a perverter. Uma interrupção no normal percurso entre crença e gesto. A brecha do instantes que traz o efeito da tentação. Noutra época, seria eu visto como um louco? Aliás, ser louco: que imputabilidade é essa? Pode-se-me culpar por estar sujeito a isto? Ou é-me de qualquer modo imputável os aspetos da minha vida? Em todo o caso, julgamento externo não me tem consequência. O problema é sua própria tortura. Num estado de pânico intramotor não há absolvição: o corpo debate-se em desespero, cria o seu próprio castigo. Porque se o gesto de pousar uma colher demora minutos, e vestir o casaco, e fechar a porta, horas, o restante dia será inferno: demasiados entraves, demasiados obstáculos antes de iniciar o acto de viver. Até mesmo o suicídio requer eficácia. Todas as manhãs há indivíduos que se matam e morrem: inspiram fundo, coçam o cabelo e atiram-se. É um gesto: implica energia, trajeto, duração, e a pontaria necessária à concretização do efeito. Até mesmo para o suicídio é preciso que o corpo funcione. Mas a minha colher nem pousou ainda na mesa: que suicídio posso eu planear se o corpo não cumpre os passos?
Resposta: nenhum. Estou rígido, não consigo mexer-me. Como numa cela estreita onde se
dorme de pé (celas assim, na verdade, existem). Como o pânico que nos acorda na paralisia do sono. O músculo diz ao cérebro: pára, estamos em situação de perigo, e coloca os nervos em oposição de si próprio. Talvez eu pudesse tentar descrever-te isto em melhores frases, mas isso seria um engodo. O nosso corpo precisa de um bem-estar a cada instante, a cada segundo que o tempo permite; só podes ler uma frase minha se o teu corpo já verifica esse bem-estar microscópico sem o qual nenhuma mente pensa, nenhum braço mexe. Compreendes? Não podes sequer entender-me se o teu estado neste momento não proporcionar essa abertura. Podes até coçar-te ou abanar o cabelo pensando-te fazendo nada: isso é já um acordo de tranquilidade entre os órgãos e o envolvente sem o qual não poderias sentir repouso.
Em termos comparativos, não sei se este sufoco é menor, ou maior, ou igual, ao de uma linha de produção a grande velocidade. A máquina, o engenho mecânico, não tem tempo para pensar mas não pensa, a máquina não faz isso. Só pessoa pensa: só ela hesita, erra, reflete, o que na unidade fabril não tem lugar. Lá, prima habilidade é a da repetição. Pede-se à engrenagem humana ter a persistência de um escravo: sobreviver sem euforia nem fracasso apesar do desgaste constante. Talvez a sua religião lhe prometa um lugar na cruzada humana, uma que só virá depois da morte porque a rotina atual não lhe oferece um instante muscular feliz, um suspirar ao pôr do sol, um regozijo do entretanto. Não sei se uma linha de produção estará incluída na eternidade, claro. Falo de uma eternidade divina, talvez, ou uma eternidade política que prometa paz após milénios de erro, ou uma eternidade poética, uma dessas que em cada época deixa um registo histórico, como um Ulysses ou uma Odisseia, para as épocas seguintes.
Não faço um estudo sobre estrutura social. O que me importa tem a ver com ação e prémio, e é cosmologia. Defino-o assim: a abundância vital ao organismo e a facilidade de poder usá-la. Algo comparável a um outro tipo de sufoco, este financeiro. Contar moedas cêntimo a cêntimo, anotando as de hoje no perigo de não ter amanhã. Um certo transtorno obsessivo-compulsivo da finança. Consegues lembrar-te de uma moeda que não apanhaste do chão, de um resto na carteira que não te faz falta? Escalas mínimas de valor que não reclamam. Nenhum indivíduo saudável contabiliza o salário até às centésimas — tal é impossível. Só um paranoico planeia a vida em detalhes inferiores à migalha. Mas imagina: e se dez cêntimos te fizessem falta? Uma pequena moeda que te permitisse — euforia! — a vigésima parte do dia que antes não tinhas. Ou calculares o que gastas sem erro de café ou aroma a mais porque a conta já estava no limite.
Matemática destas não é impossível. Populações inteiras vivem com isto. Os maiores atletas treinam anos a fio para uma tal ausência de erro. Uma matemática que é, digamos, patológica:
uma que coloca o corpo numa fase crónica de aperto, sem os devaneios e descansos da liberdade motora. O simples ato de pensar, raciocinar, é oposto: é um exercício luxuoso, implica estímulos e esquecimentos, iniciativas, recuos, reformulações. Todo o crescimento exige descaso, uma pausa na consequência para poder imaginar hipóteses, verificar efeitos. Mesmo as perguntas demoram anos, ou uma vida inteira, a formular. Por exemplo, esta pergunta: que meios me deu o universo para eu obter o que ele me promete?
Penso nisso. Penso nas criaturas cansadas de ser membro da sua espécie, hoje, ontem, em todas as eras. Penso na quantidade de crença, razão ou negação que puxa o amanhã quando o hoje não dá lucro. Penso no descaso que se permite a quem, bebendo conhaque à sua secretária, sorri de conversas que mal ouve e assina documentos que não leu, porque os milhões na construção de uma ponte ou os mil soldados mortos em guerra são valor parco, números de pormenor, detalhes sem importância para dar ao corpo qualquer tensão ou desconforto.
Há uma malha neurofisiológica — uma grelha de tamanho variável — definindo a minúcia de cada espécie na epopeia do movimento. Os mitos e poemas que levaram deuses e heróis a conquistar territórios representam ações largas de paixão, glória e futuro; a apatia pós-desastre nuclear será o oposto, uma redução na escala, o estado de dissociação que faz um indivíduo (ou uma civilização inteira) ver-se inábil para sentir ou acreditar quanto baste para investir no mexer de um braço.
Digo-te isto e não o sei de todo; depois de tanto tempo a tentar levantar-me, perdi o motivo. Adoraria tê-lo. Ouve-me: eu adoraria ter esse patamar onde a criatura média vive, acima do tédio e abaixo da violência, mais firme do que o instinto mas mais suave do que o pânico. Um estado que, em hipótese, seria até mais: um convite molecular a cada instante, uma aprovação do organismo no lucro de estar vivo, geometricamente fácil, mineralmente sensível. Como um equilíbrio verificado a cada postura do corpo, numa arquitetura doce e espontânea cruzando em si todas as escalas. Afinal, não quero colocar-me numa categoria especial da humanidade só porque tenho um transtorno. E de qualquer modo eu não sei ainda qual a gramática destinada à nossa espécie:
se são vinte ou trinta as partes que nos compõem o dia, vastas, abundantes, tal que esquecer uma ou outra é leve mas não um sufoco,
ou se são estreitas, frágeis, como agenda de atritos que permite o agora mas não o futuro, num défice a cada moeda,
cada gota,
cada carícia,
cada mensagem que parecia não nos faltar.
Nem sei se é suposto eu estar a pensar nisto. Porque no ideal talvez eu pudesse seguir em frente sem saber estas coisas, prosseguir sem ter de calcular qual a natureza cosmológica de cada parte,
de cada simples parte,
de cada vigésima parte,
do meu dia.
morada
Até agora, a qualidade mais antiga das cidades é terem portas.
Até agora, a qualidade mais antiga das portas é terem casas.
Até agora, a qualidade mais antiga das casas é terem moradas.
Até agora, a qualidade mais antiga das moradas é terem pessoas.
As praças existem porque as pessoas se cruzam.
As ruas existem porque as pessoas regressam.
Os jardins existem porque as pessoas descansam.
As fachadas existem porque as pessoas apreciam.
Geograficamente, poderá dizer-se assim:
o céu existe para que as pessoas o vejam.
Os sons existem para que as pessoas cantem.
As substâncias existem para que as pessoas as moldem.
Talvez tudo isto pareça uma arrogância elementar de uma espécie, considerar que o universo existe para seu uso. Ou talvez seja inevitavelmente o oposto: uma espécie não pode colocar-se se não no centro, caso contrário não sobreviveria.
E o resto do universo não interessa a uma espécie se de qualquer modo essa espécie não está viva.
Pelo que se poderá dizer:
o universo existir para uso pessoal é condição essencial de toda a criatura.
Querer estar vivo é condição necessária para se ponderar o universo.
E na verdade o universo, por estranho que pareça, não está a ocupar-se com outra coisa qualquer.
Ele está feliz se o cão rebolar, ou se a pessoa se senta,
sem exigir mais de um ou de outro,
e sem aparentar ter destinos outros para as coisas.
A uma escala individual, talvez se possa dizer
que cada criatura contém em si
justificação para a existência de tudo o resto.
Caso contrário nenhum assunto,
na boca de ninguém,
na vontade motora de ninguém,
existiria. 1
nota de rodapé
1
Só é pena que um rio do mundo se chame Mississipi,
e que uma extensão tão grande a perder de vista se denomine tão simplesmente África,
como se ela pudesse ser homogénea e essencialmente diferente
de todas as vizinhanças que lhe fazem fronteira.
Não sei que nome lhe dão cada uma das espécies,
cada uma das criaturas que se curvam para beber água de um pequeno lago.
Talvez um animal voador nem sequer sinta a excitação
de estar a passar de um continente para outro quando passa
pelo estreito de Gibraltar.
Se ele vem até à nossa morada
ou se nós ocupamos renda de um lugar alheio que não conhecemos,
não sei.
Mas sei que, para fazer morada,
talvez cada um de nós precise dessa sensação sinistra e vaga
de conhecermos uma coisa que nos rodeia,
de modo que confiamos poder saboreá-la no dia seguinte
e confiar que ela não nos vai ameaçar, nem agredir, nem dizimar,
o que implica aplicar-lhe uma certa personalidade.
Talvez a mesma que o pássaro sente
quando para cá volta,
ainda que essa coisa invariável seja para ele
completamente outra coisa que aquela a que nós chamamos
planície ou Costa ou Tejo,
e cada uma dessas coisas, sendo para si estranhamente a mesma,
tem para todas as espécies
e para todos os fenómenos
mil nomes diferentes,
moradas diferentes,
de tal modo que nem em relação a si própria vale a pena
essa coisa tentar compreender as funções
e os nomes
que só por uso externo oferece
a si mesma.
coleção
Pratos, flores, copos, pratos.
Tigelas, pratos. Flores, flores, flores.
Tigelas têm flores. Pratos.
Coleção: os copos. os pratos.
Os anos.
A civilização precisa de arrumação. Coisas no lugar.
Aquilo que espera por ti para que a tarefa aconteça.
Coleção: decoração. Instalei-me. Algo se instalou.
O que é uma coleção?
Possuo o que adquiri.
Uma coisa ser minha ou não ser,
faz diferença para a coisa em si?
É da natureza das chávenas ser indiferentes à situação em que se encontram.
Não sei se elas se lembram de mim, embora eu delas.
No fundo: coleção de coisas que não se alteram por ti;
não choram, não salvam, não rezam, não calam, não ajudam.
Mas um momento de chá e bolachas é bom,
enquanto o mundo não se altera. Por ti.
Ou talvez não. Talvez o oposto:
uma chávena de chá e bolachas só faz sentido
se o mundo se altera por ti de vez em quando.
Nem que seja só de vez em quando.
Se não, uma simples chávena é uma hipocrisia,
uma tentativa de fingir feliz o que não se atualiza há muito.
É da natureza dos humanos ser diferente à situação em que se encontram.
Prata, vento, copos, pratos.
No fundo, eis a harmonia das coleções.
Se pudessem, fariam o museu do que foi, a dado momento, o mundo;
do que foi ou do que poderia ter sido.
Seria bom que depois de todas as guerras e de todo o caos
as coleções continuassem lá, intactas, a lembrar o que poderia ter sido.
Coisas que não mexem, acumulam.
É da natureza delas ser indiferente.
Elas só podem esperar, por um tempo, ou por alguém;
por vento, por pó, por chá, por ti;
por algo que faça nada ou por algo que faça algo.
No mundo há duas coisas: as que mexem, e as que esperam.
Isso não se coleciona.
Apenas espera, assume um acordo temporário dos movimentos.
Se acaso alguém quer reanimá-lo,
numa espécie de nascimento,
numa espécie de nova glória da beleza de certos cenários,
talvez as funções mudem, a decoração faça de novo sentido.
Desde que, claro, o resto do mundo o justifique.
Ou desde que se justifique aquilo que se mexe
ali, naquele canto, tal que se mexe
sentindo uma coisa mínima
que se altera por isso,
por algum sentido.
olá, adeus
Mas talvez a rapariga até estivesse a gostar de estar ali sentada no metro atafulhado, embora a mãe não o apreciasse tanto; ou talvez a menina tenha olhado para as pessoas à sua volta e visto naquele cenário o mesmo calor humano de quando está em casa ou nos passeios pelo jardim. Porque ela olhou para algumas daquelas caras e abanou a mão em sinal de adeus enquanto a mãe a carregava ao colo apressada para fora daquele lugar.
Afinal, não foi isso que lhe ensinaram? Quando se vê alguém diz-se olá, quando se vai embora diz-se adeus.
É uma espécie de confirmação sentimental que se dá às pessoas, uma certa matemática da cortesia, ainda que em termos objetivos a quantidade de indivíduos que está num espaço - por exemplo, uma carruagem do metro — é aquela que for, seja ela qual for, e isso não exige contagem nem verificação porque não tem interesse. (Num dia em que quase ninguém esteja numa carruagem de metro, talvez aí sim, as quantidades parecerão dizer alguma coisa).
É portanto uma logística da sensação que nos faz dizer olá e adeus: para que cada pessoa saiba com quem pode ali contar; ou para que se saiba que a partir do instante do adeus determinada pessoa já não fará de personagem naquele cenário, informação que importa a cada um daqueles que ali permanece na cena. De certo modo, confirmar a presença e ausência de alguém define uma segurança essencial entre as pessoas: uma segurança de contrato, de "está tudo bem", ainda que as leis da natureza sejam mais aleatórias e possam decidir fazer com que de repente esteja quem não deveria estar, ou não mais esteja quem pensaríamos que ainda estaria ali por muitos anos.
Essa habilidade da natureza é cruel, e não é geralmente natureza nossa. A nossa natureza é saber contar com aqueles que nos fazem contar com eles, num acordo mais confiável do que a tragédia ou a conspiração. O que, de certo modo, coloca as pessoas num contrato entre si, um contrato mais nobre, mais bonito e ainda assim arriscado em relação às possibilidades matemáticas de estarem outras quantias ali, muitas ou poucas ou nenhumas.
Talvez a mãe não conte com nenhuma daquelas pessoas para o seu dia seguinte, porque quando saiu do metro pegou nas suas coisas sem olhar para ninguém. Mas a menina, aparentemente, estava a gostar, e quando colocada ao ombro da mãe, olhando por cima das costas para aquelas caras que nunca tinha visto e nunca mais veria, disse adeus
recorte
A cena era esta: nos arrumos do marido havia uma pequena coleção de fotos de mulheres nuas, todas elas sem cara: o marido recortou a face de todas as fotos para ter apenas o corpo daquelas mulheres.
Não a cara; apenas o corpo, porque cara gostaria que continuasse a ser a da sua esposa. Ou dizendo ao contrário: gostaria que a esposa que ele ama tivesse um corpo daqueles que já não tem mais.
Entenda-se, não foi por mal;
foi honesto para si mesmo ao reconhecer as partes de que gosta na mulher e as de que não. Dá até para fazer uma linha clara a dividir:
disto gosto
———
disto (já) não gosto
Se ele tivesse ali uma foto da esposa, bastaria completar, como quem junta partes de coisas diferentes, e masturbar-se-ia e teria prazer observando aquela querida cara acoplada a um desses corpos pelo buraco da fotografia;
seria bom, seria ideal — isso sim, aquela cara, mas com aquele corpo.
Talvez fosse uma coisa cruel de o dizer, mas para si mesmo era uma honestidade: talvez a maior honestidade, como a da criança que quer o bolo de chocolate mas não esta fatia, antes a outra, ou a que gosta da avó mas não para lhe dar beijos no buço;
eu gosto de ti mas não disto, só disto. Talvez ele tenha tido o esforço de não dizer à mulher, para não a magoar;
mas ao menos para si conseguia ser honesto e persistir imaginando por vezes que ela tinha outro corpo. Isso será melhor do que dizer: gostaria de que fosses mais x ou gostaria de que fosses mais y — isso sim, seria injusto. A verdade: não tens de mudar nada; a verdade é que eu gostaria de que tivesses outro corpo.
E isso não é coisa que ele lhe fosse dizer. Para ser total, ele apenas poderia dizer uma de duas coisas:
não gosto de ti — ou —
gosto de ti como és.
Dizer gosto de ti mas muda de corpo não é opção, não está em catálogo.
E talvez não esteja em catálogo ele alguma vez encontrar a pessoa que lhe seja perfeita em todos os momentos, em todas as idades;
quando foi que isso alguma vez lhe aconteceu?
Talvez nunca;
que de certo modo, se fôssemos tirar uma foto completa de todas as pessoas que temos na vida, todas elas seriam cortadas em partes conforme a medida, retirando o que não nos satisfaz em prol daquilo que melhor seria se fosse de outra maneira.
Afinal, se não há a pessoa perfeita, como não fazer um exercício de recortar? Como não dizer “amo-te” a uma foto no seu todo quando secretamente se lhe recorta bocados? Num estado provisório do balanço que a cada momento a vida define: são poucos os pedaços que eu retiraria, logo amo; são muitos, logo não posso, rejeito, já não compensa.
Ele não queria e fê-lo;
seria afinal preferível o oposto, dizer a si mesmo que ama tudo, que é só por fraqueza sexual que imagina outras partes? Como uma espécie de entrega que o faz amar o ser completo, culpando-se pelo que não aprecia; como uma espécie de utilitarismo que o obriga a considerar uma outra pessoa como plenamente satisfatória porque corresponde ao papel que tem?
Será talvez essa a plenitude humana, a de aceitar alguém totalmente como é, ao ponto de superar obstáculo do gosto pessoal? Em suma, seria a mais robusta ação do agrado, como aquele amor que certa pessoa poderá ter pela sua comunidade ou que uma mãe poderá ter por um certo filho, não importa o quê.
Ou talvez não; que a maior crueldade, e ainda assim maior honestidade, seria assumir um objetivismo prático e dizer: de ti só gosto disto, por isso só esta parte me diz respeito — fico com a cabeça, não me interessa o resto.
Tudo fotografias recortadas à quais se diz: eu gosto de ti, mas não de tudo; esta parte eu tolero quando estou contigo. De mim, tolero ter uma fantasia pessoal de uma totalidade em que não és exatamente assim, mas isso é meu, é pessoal.
O mundo não nos dá perfeito aquilo de que se gostaria, gradações extensas do que satisfaz talvez só em parte, numa variável compensação das partes no todo. Não é de raro caso a quantidade de frustrações e negações com que as pessoas pelo mundo fora toleram coisas que têm, que assinam, que assumem;
é isso uma falta de amor crucial?
É isso um engodo do compromisso?
Não há talvez sequer liberdade total quando o ato de escolher é ele mesmo incompleto: escolher uma parte, escolher uma faceta — é algo mais parcial do que o objeto, menos material do que o corpo — afinal, quando se escolhe escolhe-se o quê? Quando eu escolho não escolho isto ou aquilo mas aspetos que eles mesmos não estão presos aqui ou ali, nem delimitados — quanta perícia escolho num atleta? que nível de intensidade escolho num aroma? — nem definidos quanto à sua origem exata ou ao seu previsível uso. Não haver função absoluta nas coisas, nem definição exata das qualidades: volatilidade que dá ao amor possibilidades mais permeáveis do que a prevista definição.
O que escolhi eu de ti, que acabei por não ter?
O que escolheria eu, se soubesse exatamente o que queria?
O que perderia, se dispensasse as coisas que me cativam sem eu as saber ainda?
Desculpa;
em todo o caso não era para veres estas fotos; se não soubesses delas, este dilema seria individual, tu estarias feliz, e eu estaria bem em guardá-lo só para mim
(afinal eu interpretei mal a cena; as fotografias eram da própria mulher.
Do filme Bez końca — Kieślowski, 1985)
parapeito
Deixei o dedo com o resto da mão em cima do parapeito e, como não precisava dele naquele momento, esqueci-me de que o tinha.
Viajei por outras coisas, naquela paisagem que observava, e só me lembrei de trazer a mão comigo quando tive de ir embora.
Não sei se o dedo veio apenas por arrasto sem me chamar a atenção, ou se o evento que eu iria cumprir ao ir embora era já uma nova viagem na qual o dedo iria ter função, chegando-se à frente para acelerar o passo.
Uma parte de mim é tanto mais minha quanto mais a tenho,
ou quanto mais esqueço de que ela existe?
gramática
Todo o amor começa com uma certa pontaria:
com as palavras que mais facilmente se destacam
à sensibilidade do nosso vício.
A cada instante, todo o amor por uma coisa
que não está presente
sofre uma pequena, mínima, ínfima desatualização
de que não se apercebe.
Cada palavra é, depois de definida,
uma ligação mais ou menos distante
da sua própria origem.
Para fazer uma descrição exata do mundo,
uma frase deveria ser o resultado
de uma aparição instantânea de palavras.
"Disto" e "disso aí", também incluindo "daquilo" e "isto".
Toda o pensamento é um investimento
por sua conta e risco
num processo de simplificação.
A essência da frase é, talvez,
a da relevância de um pormenor:
Aquilo que se escolhe como o ponto de partida
para algo maior,
quando cada frase por si mesma não pode
dizer tudo.
Um texto, esse sim,
para ser completo
teria certamente de ser infinito.
O que faz a verdade estar
numa frase e não noutra?
O que faz a verdade estar
num corpo e não noutro?
Todos os corpos encontram
o mesmo texto do universo.
Apenas: diferentes parcelas.
Um texto infinito será talvez
sempre verdadeiro.
Parcial, desfasado, o corpo.
Um efeito linear da leitura:
só se pode ler
uma coisa de cada vez,
a seu tempo.
Um efeito linear da existência:
só se pode compreender
uma coisa de cada vez,
a seu tempo.
perimetria
estendo o braço: agarro. Posso agarrar; posso fazer o que não é meu passar a ser. Ou: ser mais vizinho de mim. Quando é que uma coisa vizinha a mim é minha? Entre as mãos e o corpo há uma distância a habitar: tudo o que, aí se instalando, pode ser meu ou não. Espaço de brincar onde eu existo. Os corpos são formados pela mínima extensão necessária: modos com que posso abrigar o que, estando perto, pode ser meu ou para mim. Se entre uma mão e um corpo colocas um braço articulado, a mão consegue estar em qualquer lugar dentro desse perímetro. Pode estar longe, com o braço esticado; pode estar perto, aninhada ao ombro; pode estar frente ao peito, frente à cara, atrás das costas: qualquer lugar que não vá além do que pode o braço. Que distância máxima gostaria eu de ter entre o meu corpo e a mão? Uma mão que vai longe: nem eu a vejo mais, mas sei que ela trará o que me agradaria. O peito, a cabeça, o tronco: o corpo que precisa e sente, e quer que se lhe aproxime algo, ou algo se afaste. Os membros são compasso, medida variável do angular: abertura que experimenta as distâncias quando o tronco, esse, não pode sair de si. Não há como existir senão sendo de si próprio o centro.
O braço não é nenhuma finalidade em si: não tem centro, não é abundante, não se basta a si mesmo. Antes: é um mecanismo útil da articulação. Articulação: combinação flexível entre coisas mais importantes. O braço só existe para dar coordenadas à mão; embora nesse processo acabe por ser corpo: sente, dorme, acaricia, acaba por ser uma coisa em si mesma. O corpo: quantidade de formas que acabam por ser coisas em si mesmas, embora secundárias à função. Então, o braço é menos corpo? Quando mexo o braço, é o braço que importa ao cérebro, ou a mão? A intenção é o motivo que leva. Quero trazer à boca um bolo, um doce: o que importa é a boca, será que a mão tem sequer lugar nisso? Os braços, as mãos, são intermediários, matéria necessária até cumprir o objetivo. Quando tenho perto de mim o que queria, pouco importa que tenha sido trazida por mão ou braço. Querer abraçar alguém com o cotovelo: pode acontecer isso? Como escolhe o cérebro a parte que interessa ao destino e a parte que é só trajeto? Fechar janela com nariz. Medir com anca.
Coordenada: centro mim no meio do mundo que mede em arco de braços abertos. Medida base da proxémica, distância das coisas: dentro do meu raio, manipulação minha. Espaço livre, matéria livre: coisas que se dispõem nos pedaços de espaço conforme a natureza solicita. Em volta de meu corpo há isto: há espaço livre, e matéria livre. Um quarto que é as paredes, a mobília, o espaço: vazio para as coisas se organizarem assim ou assado. Eu sou isso: matéria que articula modos de estar no centro; o centro esquece-se que é si mesmo, existe para utilizar a coisas que ali estão. Corpo: geometrias mínimas de afetar outras em espaço que me circunde.
Estou pensando nisso, em pose deitada: de barriga para cima, estou confortável, e esqueci se tenho sequer um centro. O corpo deitado no chão, pernas cruzadas, a mexer as unhas: as unhas são o centro, são o foco da minha atenção: neste momento o meu corpo é isso: é as unhas, o meu tronco é palco, faz de chão ao momento para as mãos estarem; meu bafo é vento de recreio. Pode o meu corpo ser o envolvente de si mesmo? Sem querer, deitei-me e achei confortável ter frente aos olhos o meu próprio peito como planície que se estende ao horizonte; esse horizonte é pernas joelho cruzando, pináculos montanhas a fazer sombra; se aqui tenho paisagem inteira que me basta e neste lugar tenho espaço às mãos para manusear conteúdo, então corpo é a si palco e envolvente? Na verdade esqueci a perna, não senti que era minha, porque ali fazendo sombra bastava-me ela estar, como qualquer coisa que me circunde sem mais que isso. Haver um assunto no universo: palco, cenário, conteúdo, e conforto para que o pensamento possa mostrar-se: é assim que o corpo processa? Em todos momentos, o olhar — ou ouvidos para quem não vê, ou sentidos — precisa de um palco que é conforto do centro, esse algures onde o agente observa e produz raciocínio, consideração: frente a si precisa ter cenário, espaço intervalos, e só aí todo o demais universo se inicia. Para todos os dias do organismo, espaço é recreio e palco, luz e ar central ao assunto conforme as situações em que a pele, o membro, a sombra se tornam escarpa ou envolvente, sentado, deitado, repousado, quietude da arquitetura, decoração singular, ao mesmo tempo paisagem e observatório que dá o tópico focado em si.
Ser criança-bebé é certamente provar cenários, explorar cenários, diferentes medidas de ser o centro do envolvente. Palco eixo de conforto perto, aonde os objetos afastam e aproximam: o berço ou sofá, ou a manta de rede, ou pequeno jardim; ou toca ou nicho, ou um quarto inteiro, ou chão de terra onde corpos adultos delimitam a extensão fazendo parede: haver o cenário que é o assunto onde se passa tudo, tudo o que seja importante considerar, ter confiança e amizade nesse cenário porque é explícito, causa-efeito que acontece ali, domínio que não vai injustamente além do meu alcance da compreensão, ou se vai, não me ataca, não me vai magoar, é só mistério do distante. É preciso explorar o que de início não nos assuste. Se criança soubesse no nascimento tudo o que a pode magoar, morreria de terror. Para nascer é preciso confiar na segurança. Simplicidade de mundo bondoso com poucas leis que se compliquem. O assunto tem de ser o que se nos mostre simples. O que se adapte ao domínio que eu consigo. Domínio: senhorio, poderio, perímetro. Aquilo que faz parte de mim porque ao meu acesso. Braço de mãe, cama, jardim: são coisas minhas porque ao meu acesso? Divisória entre aquilo que domino e aquilo que não domino: cláusula de separação entre o meu assunto coerente e resto.

Variações de domínio: o quanto está, ou afinal não está, ao meu acesso. Ao meu controlo. Pessoa que tem pouco ao seu braço vs. pessoa que tem muito, mesmo o que de mais longe. Amplitude protocolar da timidez ou do egoísmo: o que posso fazer meu, submeter-se a mim, explicar por mim: aumenta o eu, torna-me maior na atribuição do espaço, maiores cenários do mundo que a mim se compatibilizam. Nem sequer preciso dizer por favor e obrigado: ninguém diz "obrigado" ao próprio braço ou estômago. Um órgão não pode querer fazer outra coisa, não pode evadir-se porque lhe apetece. Logo, não tenho de ter apreço, não tenho de dar mais motivos para que fique. Pode o meu corpo sentir-se pequeno como um nada ou grande como um império, dependendo de como no mapa nada ou tudo lhe é assistido? Distância por mais que grande, por mais que me exterior, pode ser privada, minha: depende de meu controlo. Perímetro imenso, nação inteira, pode ser de um só rei ou ditador, restante sociedade que ocupa mas pouco direito a si. O que se gere num mapa inteiro não precisa apreço nem consideração, se é coisas que não se me confrontam, não dizem "sim" nem "não", como canetas numa mesa. Ou como carica em minha mão. Não faz parte de mim, mas faz parte de mim: uso o que tenho e não preciso despender, ou: está ali sempre para mim. Pensamento é gestão complexa mas fácil: mil coisas diferentes gratuitas na cabeça sem ter dizer obrigado ou desculpa. Ideias cruzam-se sem exigir protocolo, como desenhos num papel: não precisam eloquência ou simpatia, preço ou disponibilidade. Estão lá, livres, acessíveis. De tudo isso, o que é meu e não é meu? Tudo o que obedece é meu, em certo modo. O meu perímetro: cenários de que sou eu o critério. Mas não há perímetro infinito: nem tudo no mundo é coercível. Catástrofe, doença, bancarrota, morte. Solidão, desespero, traição. Desolação, coma, apatia. O que não podes prever nem adequar ao teu gosto: perímetro que limita a tua primazia. Onde não podes, aí terminas: eis fronteira que te define. Além disso, há só: o mundo em excesso. Ou: assunto de tua mente deparando outros assuntos. Horizonte: salto para outros assuntos. Para que horizontes se olha quando se quer sair do seu cenário? Quanto mais além do que eu só sei ou penso? Quanto fora à vedação-domínio que é o meu vital conforto?
O meu corpo ser agente, ou ser o assunto, ou ser o cenário: particularidades muitas no que parece uma só coisa ao mesmo tempo.
Mas todo ele é meu: mesmo quando durmo ou não sinto, mesmo quando é cenário de ação nenhuma, paisagem sem assunto. Mesmo pele flácida de braço ou seio, partes que não mexo nem dirijo à minha vontade porque sem ação ou músculo, doem-me na mesma: são minhas. Se dói, se sinto, é meu. Sensibilidade que tenho percorre os meus pontos todos, quer eu os mexa ou não. Unha, cabelo, orelha, mama: igual que noz ou maçã ou carica em cenário do evento, mexo com as mãos e não as sinto por dentro, mas dão-me sensação para mim, minha, em pose deitada palco meu ventre. Aqui neste vale rodeado de pináculos pernas de meu corpo, posso mexer unhas, dedos, noz ou carica. Mas noz ou carica não doem, não falam, não agem: metade do evento que não posso sentir totalmente. Ou talvez o oposto? Não falam, não recusam, não agem: assuntos meus que a mim obedecem como cabelo ou peles flácidas que por não seguirem vontade outra só a mim pertencem. Se vou embora, trago cabelo comigo, carica fica. Mas ambos obedecem quando peço. São ambos eu, quando estão comigo?
Mas então o oposto: se eu assisto a assunto que se passa em mim, tona de mim, ou dentro de mim, mas não posso dizer "quero" ou "não quero": ainda é meu? Doença come fígado por dentro: faz pedra, eu sinto, não é músculo que eu mexa, não posso decidir. Sou palco de evento que não se me dirige. Ou: mão externa, outra que não minha, procura buraco algures em mim e entra: enfia, vai dentro, procura o que não sei, mas gosta, porque repete; eu sinto mas não gosto, não quero aquilo, antes outra coisa: assunto de cena que afinal não é para mim. Mas se mão ou pénis ou objeto me entra e eu digo "Não" e aquilo entra na mesma, que recreio é esse? Recreio: evento de que não sou ator nem audiência, há outro quem lidera, que brinca ali; articulações são minhas, braços meus, pernas, pescoço, mas não conseguem fazer que afaste, não restabelecem quarto palco de minha primazia. Não tenho como pará-lo, mesmo quando sinto ou dói, mesmo que diga que não. Nesse caso, este material é meu ou de outra pessoa? Este tronco: é meu, este braço meu, este buraco meu, ou de outra pessoa? A quem obedecem, se em tal momento não me defendem como eu quero? Eu ter antebraço: ele ter medida e volume, e isso servir para dar prazer a outrem, contra vontade de mim: afinal braço cumpre mais vontade minha ou de outro? Quem pode usar, decidir, quem pode enfiar, enfia, usa; eu assisto. Olhos meus são meus, isso podem, mas apenas isso: decidir olhar ou não olhar, cabeça pode pensar nesse problema ou noutro qualquer, enquanto o resto corpo serve de uso a um evento que não é para mim.
No fim a dor passa. Ou se não passa, é menos, incomoda menos, eu volto a mexer. Volto a ser eu. É isso que significa? Volto a ser eu. Experimento, funciona: perna mexe a meu comando, de novo eu ajo, decido — braço, nádega, barriga, ventre, mexem vontade de mim para mim. Acedem meu interesse. Mas o que significa isso, partes minhas acederem ao meu interesse quando já se me permite, quando já entretanto? Se há coisas de mim que são minhas só entretanto, não o são sempre. De que modo posso considerar meu o que não me é sempre? Como um objeto público que toda a gente mexe e eu por vezes: não sei quando posso, nem por quanto tempo, nem em que estado o encontro quando reivindico. Uma coisa ser minha é ela ser minha em todo calendário. Corpo que tenho, preciso dele sempre, sempre, mesmo quando adormeço ou desmaio, mesmo quando não penso nisso. Mas pelos vistos, há partes de mim que não são eu: coisa que parece minha, de meu corpo, que aproximo de mim porque tem benefício, mas depois vai embora sem eu querê-lo: pelos vistos não era minha, era de outro, anexa-se-me mas não sempre, só de vez em quando, tem outros assuntos. Há alguma parte minha que seja só minha, só de mim? Os olhos pelo menos, se ninguém os usa para entretenimento que não meu; ou cabeça, se penso o que só para mim admite. Mas nem boca talvez, nem nariz um pouco; no mais, de pescoço para baixo nada é meu, nada é apenas meu: é parte do mundo que não sei se confio ou rejeito, pode servir-me ou não, é lugar de quereres outros que podem ter nada a ver, ou até ver oposto, de mim. Só é pena que as tenha ligadas: é uso de outros mas a sensação é sempre minha, como pele de fulanos outros mas que doo eu, assuntos que não me dizem respeito mas causam mim, sou consequência, articulações de assunto que não sabor meu, domínio meu, destino meu.
Do que sei que tenho, resta-me isto: olhos, cabeça. Os ouvidos não: afinal, fazem-me ouvir o que nem sempre quero que oiça: tento fechar o ouvido mas não consigo, o barulho persiste, insiste. Os olhos ao menos fecham. Se me obrigassem a ter olhos sempre abertos, para ver o que não quero ver, talvez nem eles fossem já meus; talvez eu pudesse especializar-me em olhar sem ver, desfocar atenção estar outro lado mesmo que a vista à vista. Mas olhos ninguém me obriga; pensamento também não. Posso pensar o que quiser, paralelo a isso, fugindo ao que acontece meu corpo. Se não posso expulsar o que em mim não quero, posso o oposto: a mente sair, corpo fica mas eu vou, vou e só depois volto, se não tolero estar aqui.
Os cabelos. Olha: o cabelo não agradece, deixa-se moldar, igual como se deixa abanar ao vento ou prender a cabide que cruzou passagem. Mas isso não me importa, eu aprovo: aprovo que cabelo meu obedeça ao vento: até gosto, faço-o meu. Protocolos de entender cabide, não entendo tudo, mas aceito. O cabelo penteia: permito que ele se molde ao pente, deixa-se modificar por ele, é desejo meu, foi por mim requerido. Dizem-me que eu deveria cuidar mais de mim. Cabelo fica mais bonito penteado: ele gosta, eu gosto. Mas para quem penteio, afinal? Se cabelo meu é uso de muitos fulanos, ou alguns, a quem agrada ele? Para quem é o meu corpo utilitário, que usufruidor requer a sua limpeza ou decorativismo? Se eu cuido de uma coisa minha, cuido-a para tê-la como quero, como gosto, como me sinto mais eu, hoje, amanhã, toda vez. Não sei se faz sentido eu investir empenho, cremes, folhas, águas, bálsamo, óleos, perfumes, num corpo que não é para mim, que se suja sem ser por meu uso. Mobília de quarto ou objetos de mochila: se está lá tudo sempre, eu confio, porque prevejo, dizer "amanhã vou precisar lenço, ele vai lá estar". É ganância querer ter lenço em bolsa minha quando não estou a usá-lo? Posso fazer pausa de não precisar do meu corpo, de ele não me ser importante? O meu cabelo: carrego-o mas é de aluguer, não sou eu quem lhe decide toda a utilidade. Faço de zelador pelo que não é meu. Objeto, utensílio, membro, material, estorvo que trago comigo para consequências que não pedi. Sei que não é bonito ter assim o cabelo, desgrenhado, sujo. Sei que não é bonito ter assim ferida, coçada, à espera de sarar, suavizar. Mas nada disto é meu... apesar de comigo todos os dias. O que compensa mais: tratar sempre só podendo usar de vez em quando, ou abandonar e só reivindicar quando tenho uso? Apenas digo meu corpo porque pelos vistos ele está sempre aqui, onde eu peso acoplado, ainda que só a outros mas não a mim dê benefício. E aliás, não sei quando ele me vai fugir outra vez, fazer cenário de outros, assuntos de outros, caprichos de outros: material alheio ao ponto de eu não poder escondê-lo quando quero não preocupar-me, nem poder fazê-lo não ser parte de mim quando as pessoas, olhando-o, o veem sendo resumo de eu.
Qual o contorno vital a uma coisa que existe? Que domínio tenho eu dentro do corpo, que domínio preciso de ter, círculo promessa de matéria externa interna ao meu serviço? Não ter mão, nem braço, nem peito; não costelas, não pulmões, não concavidades, protuberâncias, inalações; não buracos, polpas e fluido, sangue, coração, medula. A mente tem um lugar mínimo imprescindível, isso é forçoso, necessário: que natureza é a dela? Mente que não pode mexer, que não pode deslocar: seria possível, isso? Pode ser corpo um corpo sem partes que se mexam, sem articulações que use? Corpo por si, só peso, sem efeito que dê ao cabouco que o estruture? Poderia a mente ter benefício em ser mente, lucro na só vibração, no hipotético do pensamento, sem um corpo onde subsista? Mente que acorda e é só pensante, só concorda: movimento sem matéria sem habilidade mexer o braço: como tetraplégico que se habitua a abster do mapa, ser corpo só cenário, resumir-se a mínimo parcial, cara e pescoço, metade peito, ombro interno, habitar cosmos no aval fixo disso?
Mas nem é preciso tetraplegia. O corpo mexer ou não mexer, não interessa. Ele não ser meu, não ser para mim, mexendo muito ou pouco, é o mistério. Acordar e o corpo não conseguir mexer-se, mesmo que saiba mexer-se: o músculo funciona mas o cérebro rejeita: não entende, está confuso, não identifica as partes, não conhece aquilo: corpo existe, é funcional, mas de algum modo não é seu, não corresponde, é intruso, parasita, utensílio de outros que foi de repente sem permissão conectado a si. Eu acordo: e quando ainda escuro os olhos, não os abri, abre-se a mente: acorda, relembra o mundo, ativa sentidos: estou consciente, de olhos fechados, procuro pelo braço pelo lado de dentro, não encontro - não encontro nada: pesquiso todo o corpo e todo ele é repelente, substituto, matéria estranha que finge meus membros, meus ossos, minhas veias, eu sinto que não é minha. Do cérebro ao dedo há protocolo que não aprovei, como antes os usos que eu não aprovei, o utensílio do meu corpo ou no meu corpo como eu não aprovei. Carne externa que me invade: ataca-me, quer usar-me, mas não sei dar resistência: não tenho como, se carne minha, só minha, interna, não existe. Pode a mente desenvencilhar-se ligada em carne que não é a sua? Ligada a carne que não é a sua. Se desespero é uma faculdade da mente tanto quanto do corpo, pode a mente ser geográfica e fugir? Como pode ela escapulir, se funções ações fugir são habilidade da carne, a mente nenhuma? Fugir para domínios onde só a mente, sem consequência, foge: ser vegetal, inativa, indiferente, incipiente: carne de efeitos fica ali, mas sem vontade. Abstenção mental de qualquer assunto, causa ou consequência: fugir para um lado onde não se concorda nem se discorda, porque isso requer atividade, e a carne-atividade ficou ali.
Não sei se é isto que sentem as pessoas, as que não sentem o seu corpo como seu. Corpo de mulher ou homem que sabe ter natureza errada: o sexo é outro, deveria, hormona pulsão-sensação contrária ao invólucro do sentido, as anatómicas sem função que o cérebro sabe que requer para si. Ou pessoa que não sente membros como utensílios, corpo que não deveria funcionar assim, assado, não corresponde à agilidade do cérebro, volumes a mais ou a menos que sem mais liberdade no movimento ou coerência no repouso, peso morto que de músculo não dá benefício. Ou anatomia parasita, vontades alheias em corpo mesmo, ideias contra-sensas, conflitos internos que mútuo se prejudicam em corpo só um, mente que quer mas músculo segue diferente ao dominativo? É desespero ter corpo que não é seu, apetrecho que não é para si: por dentro ou por fora os nervos ligam partes adversas e sabem disso, sabem disso, e como tal não se convencem a usar, processar o músculo, mexer por anatomia.
Não sei o que consigo. Tento por vezes, por vezes não tento. Tento quando o corpo é meu, quando o sinto meu, quando me lembra, tímido, de que me pode primazia. Quando não o sinto meu, não consigo. Não há vontade. Dizem-me que eu deveria ter mais apreço por mim, aparência e saúde, pelo meu corpo, este mesmo. Mas talvez ele seja cenário demasiado grande, demasiado vasto para o meu controlo, para o meu sentido de privacidade. Um contorno mais reduzido, talvez seja o que eu preciso: a maior parte deixar de fora, esquecer, rejeitar as carnes que me são estranhas: ter dentro só a parte do universo, mesmo que pequena, que seja minha: onde coisa mínima pulsa respira e mexe e gerencia, elaborando de cruzar elementos no cenário, e sabe que pode ter isso: e dentro de si se conforta, e aí confia. O resto do corpo pode estar reclinado na esquina ou em maré vaza, pouco interessa, cumpre só horários da fisiologia, faz olhos abertos ou fechados, volume a quem use, sensações semi-distantes como os sinais da meteorologia. O corpo, esse, continuará comigo sempre, sei isso: por vezes agrada mas não me interessa, por vezes dói mas não me afeto. Continuo aqui só porque ele aqui está, nem era para ser assim. Era para ser só pensamento, ideia, cabeça, se a mente pudesse isso sem eu ter de detetar um sabor ao lábio, um fluxo de frio ou cansaço. Ou talvez ele por vezes ainda me dê um conforto mínimo, esporádico, subtil, desapercebido, como quem vê um transeunte de vez em quando, mas não sabe que amizade lhe tem, nem se o ama ou odeia, porque não sabe se tem direito, confiança, negociação, antes de de novo me abandonar por aí.
cálculo horário
Façamos uma análise horária:
Uma pessoa está 8 horas desse mesmo dia a servir cafés, a limpar a bancada, a registar o expediente de bebidas, bolos e sandes, a verificar os guardanapos, a empilhar as grades.
Durante todo esse tempo, essa pessoa pode estar a pensar no que quiser:
no porquê de as superfícies de aço serem tão perfeitas e isentas de oxidação com o ar corrente; na muita ou pouca divindade que existe no ato de escorrer uma esfregona bolorenta às 2h da tarde deste universo com propriedades físicas e metafísicas; na evolução que haverá entre as habilidades de um pajem da Idade Média em questões de passar o pano numa superfície e o mesmo gesto depois de meio milénio; nas diferenças de cor de todas as mãos que seguram todos os copos de galão, e todas as descobertas filosóficas que ao longo das épocas servirão para elevar ou invalidar uma determinada cor, uma determinada textura de pele, quantia de dedos ou articulações, código genético de carne, tipo categórico de sangue, nível de hibridismo mecatrónico, tipo de natureza funcional; na quantidade de tempo necessária para escrever um romance e da quantidade de mesa, estante e luz natural que isso exige; na velocidade com que o corpo está secretamente a crescer e nas faculdades e doenças que se desenvolvem em certos becos da carne sem dar a conhecer a sua agenda; nas tarefas que daqui a outro meio milénio as pessoas estarão a fazer na sua rotina, caso tenham alcançado a paz utópica da sociedade ou um novo tipo de exploração dos diferentes graus da hierarquia, a ponto de dar aos topos luxos que desconhecemos e às bases exigências que nos chocariam; ou talvez nas novas habilidades corporais e fisionomias que passarão a dar a esses "humanos" velocidade, articulação e movimento que hoje conhecemos;
essa pessoa poderá estar a pensar em tudo isso; e ainda assim, durante essas 8 horas apenas lhe é pedido que contabilize os pastéis e sirva os cafés;
e o seu assunto privado é desta ordem: em chegando a casa terá de fazer o jantar para as duas filhas e lavar a roupa que ontem se molhou, e calcular as compras da próxima semana em conjunto com a ajuda que prometeu ao irmão, e remendar ou mandar remendar as calças que já não protegem da chuva nem dentro nem fora do balcão de serviço, e na fenda na parede que terá ou não prioridade em relação às declarações da segurança social. Por fim, essa pessoa irá deitar-se e apagar a luz — e não chegou ainda a continuar ou agir sobre esses assuntos em que pensou nessas 18 horas e 37 minutos que esteve desperta nesse dia.
Entenda-se, isto não é um apontamento sobre as desigualdades sociais. Porque do mesmo modo, é possível que uma diplomata perca metade do seu dia numa viagem de avião e a outra metade jantando com pessoas cujo idioma desconhece; é admissível que um conhecido escritor verifique em agenda que tem uma palestra para dar, apesar de não ter nada para dizer, e sucessivas reuniões sobre livros que ainda não escreveu mas que seguirão, naturalmente, a linha desse outro que publicou e do qual as audiências querem mais.
O cálculo é este:
Ao fim do dia, em termos de motricidade, cada uma destas pessoas cumpriu as tarefas que lhe permitem continuar vivo no dia seguinte — coisas que garantem o alimento, a residência, a saúde, a roupa, o nome. É apenas isso que se exige para a manutenção do corpo, de tal modo que ele se permita ocupar-se das mútuas afetações dos materiais orgânicos pela superfície do cosmos que lhe está diretamente afeto.
Não é certo que alguma vez seja necessário descobrir a receita da hierarquia social ideal (do ponto de vista da liberdade ou, por oposto, da soberania), nem da solução plena para a facilidade motora de cada gesto de limpeza, nem o cálculo de quantos apaixonados é preciso ter numa sociedade para que não falte às pessoas mais cansadas uma dose mínima de poesia, pintura e música. Naquilo que se considera a evolução das espécies, a nossa capacidade cerebral não se desenvolveu para resolver problemas espirituais e metafísicos: o lucro quantificável (comprovável) é a maior capacidade analítica e logística de permanecer vivo, igual ao que se era.
A isso se resume a saúde médica: a capacidade de um indivíduo ser independente, gerador dos seus próprios recursos, de modo a não depender de serviços excessivos dispensados pelos outros (hospital, ala psiquiátrica, enfermeiro, ajudante; família, vizinhos, amantes, amigos). Ou dizendo assim: independente ao ponto praticar uma atividade que, no sistema de uma sociedade, lhe dá quantia suficiente de autonomia.
Nisto reside uma certa liberdade inviolável do indivíduo, que à medicina não diz respeito: a liberdade de, à parte dos assuntos da sua sobrevivência, poder pensar no que quiser, apaixonar-se pelo que quiser, degustar dos desportos que quiser, investir nos lucros emocionais que quiser, sejam eles muitos ou nenhuns. Esta é a amplitude que, de certo modo, define as liberdades de imaginação acessíveis a cada pessoa dependendo dos recursos do seu envolvente, seja numa fazenda medieval europeia, num palácio imperial da China antiga, seja numa tribo remota nos Andes que, nunca tendo sido diferente de si mesma ao longo dos milénios, por falta de lhe haver uma data diferenciadora, tanto nos é ancestral como contemporânea; todos têm a liberdade de pensar na sua agenda da cosmologia, desde que diariamente mantenham, no mínimo, as funções básicas de estar vivo — e isso, sim, é o que define a sua saúde à medicina.
Entretanto, claro, não sei por que razão estou a pensar nisto;
hoje consegui cumprir algumas das tarefas da minha rotina: lavar os lençóis, despejar o lixo, enviar uma carta. Este pormenor — este simples pormenor — certamente será motivo de satisfação para os meus terapeutas.
Mas há outros assuntos que gostaria de resolver; assuntos que tenho de resolver... Mas penso que para os meus terapeutas isso é indiferente. Ninguém me ratifica a sobrevivência com essas preocupações ou habilidades. De tal modo que só eu sozinho posso decidir quanto tempo da minha sobrevivência posso dedicar — em suma, quanto tempo da minha vida posso desviar dessa exibição logística de saúde — para pensar em coisas de outro tipo, de um mais profundo tipo.
prateleira
"Demasiadas coisas pesam: tornas-te coisa". Disse-me X um dia. Goza comigo. Cara de X. Riso de X. Fibra. Viajar é libertar objetos, usar dos outros. Funesto. Cruel. Prato. Sabão. Pessoa. Guia. Livro. Água. Coisas foram feitas para estar no lugar, pessoas passar. Só assim define movimento: é preciso algo estar parado.
Brilho cerâmica. Luz rebordo. Quente, cor quente. Amarelo forno sem calor. Amizade sem toque, quente, terra, terra, amarela. [O homem primeiro no mundo amava a terra. Só depois perdeu isso.]
Pesa. Cidade pesa. Levanta o metal, mercúrio, madeira, pedra, resina, barro: não aguenta. Um só humano não aguenta o peso da metrópole; um nem todos. Há coisa que faz estrutura continuar, manter. Humano trabalho denso deixar passar a coisa, deixar passar coisa para que cidade continue suspensa, funcionar, mexer, trabalho de não parar: fazer ser o que é, carta vir, água ser, prateleira aguentar.
Porque se deixaram de ser nómadas?
Cidade não se transporta. Cidade nasce, ou decai. Coisa que há ao lado nunca é a mesma, transportada: é outra. Pessoa que deixa aqui e há ali nunca é a mesma: é outra.
X. Letónia. Casaco. Altura. Louro, pelo. Mudo. Longe. X, grande buraco: ausência de X. Grande, pesa. X está lugar da Letónia. Ausência de X está outro lado. Flores e não X. Pratos e não X.
[Geografia: não existe omnipotência. Não há modo de mudar ordem tudo o que existe. O mais livre dos seres não muda montanha: quer que ela o seja: para sentir livre quando afasta. X assunto geográfico. Movimento de Y segundo X. Se Y não move em acordo com prateleira ou pessoa, de acordo com quê?
Ainda não encontrámos definição satisfatória
para liberdade. Liberdade: soma da possibilidade de movimento. Mas: não passar parede. Não sair corpo. Não ver subsolo. Circunspeção. Mexer onde há vazio, não objetos. Parar antes de objeto. Mover direção objetos. Desejo é paradoxal. Move-se para coisa, e quando lá, pára: não pode mover-se mais. Desejo nunca foi interseção: coincidência. [Só ignorantes pensam que sexo há coincidência. Algo no corpo pensa, mas matéria não funde: separa-se e continua mesma. X X e Y Y. Pele pele, e pele pele. Corpo Y quer chorar. Corpo X não quer saber.]
Liberdade: soma de vazio entre objetos. Movimento: soma de haver hipótese. Mão rodeada espaço desloca para desejo. Quando lá algo diz: podes deslocar-te onde queres. Faz. Quando lá algo diz: podes deslocar-te onde queres. Liberdade: soma ato seguir desejo para um estaticismo absoluto. Geografia: acidentes da insatisfação.
Toda caneca aguarda desejo, toda carta, toda escultura. Pessoa encontra pessoa: clímax. Oposto: dispersão. Ou: só no afastar família é liberdade? Por qualquer motivo quando pessoas têm fome juntam-se mesma mesa.
Vê-se pela decoração que espécie de pessoa é. Que espécie de mexer tem. O que repete. Paraíso é só um. A felicidade eterna é extremo estaticismo: um ser encontra desejo e abraça-o: sempre. Estaticismo é inorgânico a quem tem desconforto. Habitua-se a ver informe, insatisfatório, insípido. Ver coisas desaparecer treina humano apreciar mudança.
X quer mais. Aprendeu. Querer é estático: quando encontra desejo de querer, agarra-o sempre. Tigela espera X: lugar mundo há tigela espera de X: não é tigela a queixa. Convém tigela estar lugar: X mexe. Ou: convém tigelas mexam mas encontrem no precisar. Motivo da convenção: facilitar encontro. Pessoa e tigela movem, acaso. Tigela lugar: encontro. Contando que onde. Cultura existe duas razões: pessoas não terem mapa de coisas; desejos criarem coisas de mapa. Se eu soubesse coisa sem ver, não precisaria arrumação.
Faço-te um mapa: Tigela prateleira. Chão ao lado. Mesa ao lado. Cadeira ao lado. L ao lado. G ao lado. Maçã ao lado. Faca ao lado. Anel ao lado. M ao lado. Vestido ao lado. Unha ao lado. Bilhete ao lado. Chão ao lado. Perna ao lado. Meia ao lado. Compreendes geografia?
É pena que mesa tenha de incluir madeira. Poderia apenas: superfície. Madeira é a parte rude da mesa. Apenas superfície: mesa não teria lugar. Vantagem do papel, compreendes? Mundo mesas. Referência. Movimento contornar, pessoas. Mundo, pessoas.
[É pena que cultura precise material. É humano não conseguir gesto superar matéria. Mundo é violento. Função humano traz volume. Sacrifício. Queres descansar corpo, tens. Priva-te um saco de espaço, de liberdade: sofá. Não há haver sem prescindir. Do espaço. Corpo é espaço. Não há prescindir absoluto.
Sentar cadeira. Coçar perna. Olhar mesa. Parar corpo. Toalha quadrados. Pão. Faca. Faca não prescinde do espaço. Mãe cortou o dedo semana passada. Até osso. Faca é rude. Volume de que prescindes pode custar-te. Volume que liga dedo à mão. Ou: volume que liga cabeça ao corpo. A mais fina parede do mundo é parede. Dissimulação é matéria espessa. Pedra não esconde propriedades. Coisas afiadas dissimulam.
É pela decoração que os pratos anulam liberdade: deixam de ser quaisquer; exigem lugar. Também: reivindicam paraíso. Sucesso da forma: não é preciso procurar mais, estamos aqui. Vida fazer sentido aqui: paraíso, meta, término, contratempo ideal. Não notar falta do que não existe. Decoração: o que é feito para haver mais no que já existe. Decoração: função extra objeto. Conquista da cultura, a beleza: mais prazer mesma matéria. Condenação da beleza: mais dor mesma perda.
Jarro. Relógio. Nariz. Voz. Amar nariz. Y usa mesas há mais de trinta anos. Podemos dizer que tem uma obsessão. Humano nunca foi livre. Toda matéria manifesta peso gravidade: corpos conformam-se. Não matéria é não função.
Criança aprende a usar corpo. Abanar bate, ver espreita. Funciona. Pé salta: perna estica, empurra chão, o corpo sobe, traz a perna, traz o pé. Afastar implica trazer. Não há empurrar absoluto. Algo tem de vir. Só empurra quem guarda. Espaço: valor absoluto de tensões. Eis propulsão, criança. Máquina empurra explosão, explosão empurra máquina: afastam-se. Espaço assiste.
Todos os movimentos se explicam num único: qualidade de empurrar. Ou: os movimentos apoiam numa coisa: superfície que não se ultrapassa. Agarrar é empurrar: do lado oposto. Abraço encurrala: mantém aqui. Faca separa: um, mas afinal dois. Pego algo, empurro para mim: mão puxa dedo, dedo empurra dedo, dedo puxa mão. O que mantém matéria junta, isso, mistério.
[Relógio. Horas. Segundos. Segundo invenção perigosa. Humano olha tempo inferior período gesto: óbvio desperdício. Olhar não tem segundos: demora. Mesa. Mesa. Corpo envelhece segundos.]
Daí concavidade. Observa quantidade buracos corpo: formas para dentro. Braço fecha, ocupa buraco, pára no corpo: corpo é obstáculo. Corpo: forma complexa de aproximar e impedir a si mesmo. Corpo buracos coisas ocuparem. Abraço é buraco: mãos trazem matéria ocupar buraco: até onde ele há: aqui, pele. Corpo mostra-se aqui: não podes apertar mais. O máximo da liberdade é encostar objetos. Dor física: degraus entre de-menos e de-mais. Solidão: eu muito, resto menos. Violação: eu pouco, resto mais. Física, forma, matéria, espaço. Humano, digamos, pessoa, precisa de espaço entre coisas: é assim que define liberdade. Precisa coisas afastar coisas. Precisa coisas afastadas de coisas. Não percebes, X. Não sei dizer. Num grafismo:
criança precisa vazio cima da mesa; precisa matéria baixo da mesa. Precisa mão aproximar maçã. Precisa mão empurrar mãe. Precisa espaço liberdade. Precisa mão desejo. Mão tem liberdade: objetos indiferentes, enquanto não desejo. Desejo, sujeito, sujeição. Todo obstáculo é falta desejo. "Se me desejasses, não seria agarrar." Há diferença matéria entre obstáculo e matéria desejo. Ou: viajar é desencontro positivo: antes de desejo parar, coisa já foi. Fica dor, mantém desejo: homem guarda intenso, não cansaço. Ou: podes sonhar memória sempre: desejo não encontrou fim movimento.
(Ou: objeto é mero pretexto).
Preferível humano dor de algo que acabou antes do desejo do que dor de algo que acabou depois do desejo.
Desejo que desaparece antes do objeto encontra dor no objeto; objeto que desaparece antes do desejo encontra dor no desejo.
Decoração no copo é bela: quando desejo o copo. Quando rejeito, é fardo. Pior falha do humano é a moda. Cansar é flor a mais. Cidade e árvore: árvore dura mais. Pessoa não pode acordar sem erguer braço matéria que estrutura peso metrópole. É preço pagar matéria resolver problemas. Ou: ideal cultura realização zero matéria. (Há quem acredite que omnipotência de Deus desprovida matéria. Pedra levanta não massa). Prateleira tem pratos e copos por causa cultura: humano somar coisas funções sob pena exposto imprevisível. X colhe fruto árvore Tibete. Não sabe que árvore tem de estar. Se ele muda, segue ilusão coisas passam. Quer escrever teoria, fazer experiência, planear norte precisa coisas paradas. Bibliotecas são fardo. Está para ser livro mil ligações uma página: poucas gramas. Não é que mão queira ter tanta coisa. Não é que ame prateleira. Ouviste, X? Amar prateleira, amar pessoa, amar-se, amar mundo: problema apegarmos coisas. Não te iludas. Ninguém rejeita o que potencia. Só quando desaparece desejo aparece repetição.
Limpar guardanapo.
Fingir, comida.
Levantar, andar.
Corredor, corredor, escuro, quarto banho. Espelho.
20kg: cerâmica, madeira, flores. Levantar prato custa pessoa empurrar chão força levantar: força lugar prato, tigela e caneca andar. Desejo empurra força empurra força levanta cidade, força pessoa aguenta vazio aguenta ausência desejo. Pessoa fazer força lugar corpo não cair: cara é pesada, músculo, matéria, falta músculo se nota, como quando cai prato, como pessoa cai sem matéria levante, sem força levante, corpo quer cair, pessoa quer cair, lavatório aguenta, faz força igual, lavatório não tem querer, faz, pessoa não caia não sabe pessoa cai não quer força aguentar peso pessoa. Gravidade cai. Lágrima cai. Sapato cai. Mão cai lavatório, segura braço segura tronco segura pescoço segura cabeça segura pessoa. Homem, criança, velha transportam pratos lugares mundo: todos movem encontro desejo linha reta. Objetos. Corpos. Liberdade absoluta não é espaço enquanto corpo é corpo. Ou: ilusão não ter peso. Matéria? Espaço? Limpar. Mudar? Mudança: exige estaticismo referência? Não agarrar. Espaço: definição de indecisão. Geografia: ideia atravessa matéria. Mais provável amor pelo espaço ter espaço do que amor por objeto ter objeto. Mas corpo. Pode-se isso? Pressão, aproximação: distância mínima sucessos. Corpo cego: não vê longe, precisa aqui. Tacto milímetros; som metros; visão quilómetros. Aperto, fluido, músculo: mensagem precisa massa.
Tigela. Tibete. Tigela. Zagreb. Espaço. Distância. Prateleira: não tens culpa. Ninguém. X que tem corpo gravidade solo não deseja peso superior desejo. Parede honesta. Dor limite para dentro. Espaço limite fora. X. Espaço. Y. Espaço. Eu. Posição desejo: mapa. Movimento externo. Sombra pele não vê movimento sangue. L aqui. O. Ar. Maçã. Sol. Sombra. Tibete. Amarelo. Braço.
Tarde. Sombra. Tom.
Brilho. Mesa.
Ar. Diante.
confissão ficcional de
Jeffrey Dahmer,
condenado em 1992 perante o Tribunal Constitucional de Milwaukee pelo assassínio de 17 jovens adultos, aos quais infligiu adicionalmente atos de tortura, necrofilia e canibalismo.*
* Esta é uma confissão ficcionada e puramente especulativa. Nenhum dos seus argumentos é baseado na confissão verídica de Jeffrey Dahmer ou nos factos relacionados com o seu julgamento.
———
Quero aqui deixar um apontamento importante para esclarecer a polémica que tem havido em relação à honestidade das minhas confissões.
Na noite em que fui detido pela polícia na minha própria casa, não ofereci resistência nem tentei ocultar os passatempos que pratiquei. Nesse momento já não valeria a pena esconder nem fingir-me inocente. Havia parafernália suficiente para me acusar de imediato, de que a cabeça no congelador e a coleção de fotos na gaveta constituíram apenas uma primeira mostra. Numa busca mais detalhada o resto foi facilmente descoberto: na cozinha eu tinha ainda outras cabeças, e órgãos e outras partes anatómicas no congelador, algumas ferramentas em diversos lugares e o bidão de ácido onde eu limpava os ossos. Sei que o que fiz foi inaceitável e no meu apartamento havia provas suficientes a falar por si: a coisa mais sensata que eu poderia fazer era aceitar.
Dir-me-ás: se eu sei que cometia um acto horrível, por que razão o cometi?
( Trato-te por tu para falar com maior intimidade. )
Dir-te-ei: se sabemos que algo está errado, devemos não o fazer? Talvez me digas que sim, não devemos; em relação a isso devo reconhecer que a moral é um guia insólito, o único que se assume como regra universal independentemente das condicionantes.
Deixa que me explique. Porque afinal, se ninguém é ameaçado ao ponto de morrer, ninguém precisa de matar. Seria preciso muita originalidade para um indivíduo médio tomar o pequeno almoço e pensar "tenho de ir ao supermercado; entretanto, vou tentar não cometer assassínio". Uma pessoa que não precisa de cometer assassínio não o comete. Estatisticamente, a maioria da população é inocente nesse campo: não porque decidiu não cometer assassínio, mas porque nunca chegou a precisar disso. Ou porque não se viu com meios suficientes para cometê-lo e sair ileso. Talvez eu gostasse de sair à rua e esmurrar qualquer vizinho que me incomoda — tenho vontade de fazê-lo?, muita. Mas na prática, não compensa a chatice.
Não creias que a criança aprende moral à medida que se vai habituando a respeitar regras. O que ela aprende é as hipóteses de não ser castigada conforme aquilo que deseja. Todas as coisas que lhe trazem grande castigo ela aprende a evitar — ou então a fazer em segredo. Não há maior enriquecimento moral neste processo. A lição é: se as pessoas censuram, dissimula-te, ou terás de dar-te ao investimento de as enfrentar em público.
Estatisticamente, as coisas no universo acontecem consoante a viabilidade. Seria bom acreditar que a moral é o antídoto, aquilo que contraria a aleatoriedade do universo. Mas a moral e a corrupção são fenómenos iguais: cada uma delas é a soma das condições propícias com prazo certo. Tanto uma como outra podem ser igualmente tentadoras: basta a distância a que se está a jeito ser menor do que 30cm. Ou a visibilidade pública menor que 15%.
Um santo que é santo porque lhe esteve a jeito é tanto vítima de uma probabilidade como o criminoso que não teve outro meio que praticar um crime.
A morte do rapaz não me causou angústia alguma; estava esquecida antes de decorrer uma semana. (...)
Se fecho agora os olhos e penso na fatia de pão, acode-me imediatamente ao espírito que naquela casa nunca soube o que era ser repreendido. Creio que se tivesse contado à minha tia que matara o rapaz, se lhe tivesse dito como acontecera, ela me envolveria nos braços e me perdoaria. Imediatamente. Talvez seja por isso que aquele Verão se tornou tão precioso para mim. Foi um Verão de tácita e completa absolvição.
Henry Miller, Trópico de Capricórnio
Afinal, o respeito surge quando entendemos que algo não se deixa tratar do modo que gostaríamos. De certo modo, o manual de funcionamento daquela coisa não inclui todas as hipóteses que nos dava jeito. A lei é a nossa melhor tentativa de contrariar as tentações comuns da probabilidade. Se a mão avança e, pensando na multa ou no tribunal, recua, estamos perante um êxito comportamental: a atitude do organismo altera-se perante uma variável ausente.
Mas em termos de motricidade, nada se alterou no indivíduo. O seu cérebro continua, como antes, a fazer o cálculo entre aquilo que se quer e as hipóteses que há em obtê-lo sem haver prejuízo. Uma espécie de moral da sobrevivência, cuja matemática não se deixa afetar pela época. Em todas as épocas, sobreviver é sobreviver. O conceito de "justiça" é uma coisa demasiado universal para se poder aplicar às necessidades de sobrevivência de cada indivíduo.
Não quero aqui acusar-te de nada, cidadão inocente. Mas no dia em que puderes tirar um objeto sem pagar, fazê-lo-ás. No dia em que eu puderes vingar-te sem risco de castigo, tentarás fazê-lo.
A inocência de uma sociedade mede-se pela importância que ela dá às coisas que violenta. Se se considera que a vida das moscas, ou das vacas, ou dos deficientes mentais, ou dos homossexuais, é insignificante, o conceito de violência desaparece.
Se a matéria à tua frente não exerce vontade política: podes torturá-la, experimentar sobre ela maldades novas.
Gonçalo M. Tavares, A perna esquerda de Paris
A nossa rotina é esta: todos os dias há cada crime que se comete em sociedade sem ser castigado. Se não se é castigado, é porque se trata de um acto permitido: é parte do sistema, inclui-se na inocência geral, valida os que a aplicam. O conceito de tranquilidade social está intimamente ligado com o efeito da hipocrisia: a quantidade de crimes que se incluem nas transações normais de cada dia.
Como alguém que compra um produto sabendo que ele inclui mão-de-obra escrava algures no mundo: não importa, ninguém te vai castigar por isso. Essa é a essência do ser cosmopolita: eu não tenho de saber como se processam as coisas que adquiro, ou os direitos que são desrespeitados quando efetuo um contrato. Se eu posso e pago, dou a minha parte, estou isento de culpa. Tudo o resto é exterior às cláusulas. A rotina é apenas um modo confortável de esquecermos que algures noutro lado a crueldade existe.
Como dizia Carl Panzram, conhecido indivíduo cuja lista de assassínios torna a minha própria lista irrisória:
Por isso eu fui forte de conhecimento e ainda mais forte de corpo do que aqueles que vitimizei. Esta lição aprendi com os outros
o poder dá razão*
* No original (Panzram Papers), might makes right
#
Os criminosos sabem bem o trabalho que dá cometer um crime: e estão dispostos a esse trabalho — é isso, e apenas isso, o que os diferencia do indivíduo comum. Aqui está uma diferença essencial.
Mas para ambos, e para qualquer indivíduo, criminoso ou não, há um fenómeno igual de custos e ganhos. Faça-se a pergunta: ao fim da vida, e olhando para trás, valeu a pena todas as leis a que me submeti?
Deu proveito privar-me dos prazeres que aceitei reprimir?
Se a resposta é "sim, valeu a pena", a saúde existencial do indivíduo está provada: houve lucro entre o suor e o prémio, fossem quais fossem as justiças ou perversidades praticadas em vida.
Se a resposta é "não, não valeu a pena", toda a argumentação humanística ou teológica cai por terra, deixa de haver fundamentação para o desenvolvimento biológico: a criatura manteve-se viva, mas não teve proveito nisso.
E se essa conclusão só pode ter-se no final da vida, porque não fazer a pergunta antes, quando ainda é tempo?
Uma vida gratificante, por mais que curta, é mil vezes maior do que uma vida insatisfatória, mas longa.
Minto se disser que um assassino é mais corajoso do que os demais.
Não o sou. Simplesmente, a intensidade e estranheza dos meus desejos constituiu em mim uma vantagem. Eles eram de tal modo aberrantes à sociedade que não me restou dúvidas: era tudo ou nada, não havia meio termo.
Em comparação, a facilidade dos desejos medianos é poder dissimular-se facilmente. Por serem medianos, por não serem demasiado aberrantes ou logisticamente exigentes, podem esconder-se com eficácia: são os desejos que não nos prejudicam demasiado, que não nos destacam demasiado, com eles podemos incluir-nos no caos diário da sociedade.
Mas não penses haver desvantagem em ser uma aberração. Muito pelo contrário. Não é uma tragédia quando o mundo descobre os teus mais íntimos segredos. Quando isso acontece, entras no estado mais ontológico do comércio: a partir de agora, o que negoceias tem a ver com a tua mais pura existência, não mais com simples farsas ou as superficialidades com que as pessoas se distraem no seu dia a dia.
Só nesse dia assumes verdadeiramente o teu nome de registo.
#
Eu precisaria apontar estas coisas para entenderes a coerência da minha confissão.
Eu arrependo-me de ter feito tudo o que fiz. Disse-o antes e volto a dizê-lo agora, para que fique claro. Eu arrependo-me do que fiz: porque afinal não posso fazê-lo mais.
Fui descoberto, o que mostra que os meus desejos afinal não seriam sustentáveis a longo prazo, pelo menos nas logísticas da sociedade atual — e mais cedo ou mais tarde deixaria de haver hipótese de eu perdurar neste meu paraíso.
Para mim foi um paraíso, igual a toda a felicidade que consiste em encontrar, por acaso, aquilo que de mais profundo sacia a medula da nossa alma. Não fui eu que escolhi. Eu não pedi para ser assim. Apenas, descobri uma felicidade não encontrada em nenhuma outra coisa da minha vida, e foi uma bênção tê-la encontrado, se entendermos bênção como aquele prazer cuja intensidade nos faz aprovar, com saldo positivo, o facto de termos nascido.
Descrevo esse desejo para quem não me entenda. Eu nunca senti particular prazer no convívio: as pessoas à minha volta competem pela atenção, o que de si já indica que ninguém tem verdadeira sabedoria no falar ou no ouvir. E eu não sou particularmente atraente: não tenho à mão a oportunidade do contacto físico com quem se aproxime apenas porque sim. Mas eu não quero ter de convencer, não quero ter de entrar nos jogos sociais com que o indivíduo médio procura competir ou exibir-se.
Nada na minha vida me deu honesto prazer: até que descobri, por acaso, ao longo do tempo, a excitação, e posteriormente a promessa, de ter alguém fisicamente belo a meu lado: ao meu acesso, mesmo que sem enveredar pelas persuasões do diálogo; ter, de certo modo, no seu estado mais puro, mais simples, como alguém que de cabeça encostada assiste a um filme ou apanha sol no parque; desse modo nuclear que têm os enamorados, os casais ou todos os que momentaneamente se unem; e a possibilidade de eu ter essa pessoa ao meu lado sem qualquer condicionante, sem prazo, sem conflito. Literalmente, ter acesso ao corpo dessa pessoa e controlá-lo totalmente, tendo-a mentalmente disponível, de modo que todos os meus desejos são satisfeitos, todas as minhas curiosidades ensaiadas, todas as nuances da anatomia abertas a cada meu impulso da carícia.
Isto não foi um plano delineado, foi uma descoberta, eu seguindo-a à medida que ela se permitia mostrar-se.
Em termos práticos, sei que este meu prazer exigia metodologias sinistras. Afinal, para eu poder colocar alguém sob meu controlo eu teria de, de certo modo, privá-lo da sua mente, ou pelo menos da sua própria vontade, de modo que ele me obedecesse sem pensar sobre isso, sem questioná-lo ou validá-lo. Isso fez-me perceber que eu teria de interferir no processo cerebral da pessoa, de modos que eu não conhecia (e não cheguei a conhecer). Sabia portanto que teria de cometer uma infração à integridade do corpo e da lei. E ponderei, e ponderei — e cheguei à conclusão de que se esta causalidade era a única chance de felicidade que o universo me oferecia, eu teria de aceitá-la. Caso contrário, nunca chegaria a ver felicidade na minha vida.
Uma felicidade rara, talvez? Uma felicidade tão sinistra que pouca gente no mundo a tentou, acima dos planos da natureza e da eternidade. Teria eu direito a pensar tão alto, a querer uma coisa tão impossível? Afinal, estamos a falar de algo que colocaria a maioria da humanidade contra mim; eu tomaria na minha mão uma luva de tirania só comparável às dos mais altos magnatas e imperadores. Decerto eu não poderia satisfazer estes meus desejos e continuar a ter uma vida normal; eu sabia que estava a investir numa utopia que poderia ver o seu raro sucesso ou o provável fracasso. Valeria a pena? Talvez;
ou é uma profunda perversão, ou é um privilégio que não se pode perder. Se tu tivesses ao teu alcance uma coisa tão extraordinária, tão colossal, que o resto da humanidade não poderia jamais conhecer, pararias para pensar? O que é valioso por ser raro: como o caviar de uma espécie quase extinta, ou as mais insólitas iguarias, ou os preços exorbitantes para o que há de mais remoto na química ou na geologia. É mercado para meio mundo, este, pelo menos o mundo rico: o das coisas que valem o seu preço precisamente porque são raras, porque nem toda a gente tem acesso. Acima disso, há o irrepetível: não se vende nem compra porque só há uma vez, não se planeou, mas apareceu no universo para quem lá estava — essa é a parte mais preciosa da vida, quando se revela desta raridade que podemos viver. Ter a vida como rara a esse ponto: independentemente da pobreza material ou da abundância de muitos prazeres banais e quotidianos. Distrações. Entretenimentos.
O que se me foi colocado às minhas mãos era desta raridade; eu não poderia julgá-lo com pensamento leviano. Isso seria ofender a matéria dos fenómenos e dos planetas. Eu sabia que era a minha única oportunidade de ser verdadeiramente feliz. E tal como a moralidade ou a tentação, estava demasiado perto, de mais em linha recta entre a facilidade e o benefício para recusar.
Entretanto, se eu tivesse sido descoberto e ninguém se importasse, ou a sociedade permitisse o sacrifício de certas pessoas em prol da felicidade de outras, então eu permaneceria impune: compreendido, autorizado, e seria feliz. E viveria feliz por sentir que o universo está deveras desenhado para benefício das criaturas — no seu sentido mais teológico — de modo que elas podem nele encontrar correspondência para os seus desejos mais íntimos nas peripécias do espaço.
Este sentimento puro, arrebatador, seria uma plenitude igual à daqueles que, por gratidão a uma fé, a um clã ou a uma tradição, se acham no direito de matar, castigar ou perverter todos os que não cumprem a ordem das coisas, ou aqueles que se considera demasiado baixos na hierarquia para fazer mais sentido satisfazer direitos deles do que os nossos.
Tudo isto seria possível, num determinado tempo e espaço. Mas não aconteceu: fui condenado. O veredicto que me foi dado é que tenho uma patologia do desejo, uma patologia cuja solução será a execução ou a adequação forçada. Na minha condição de simples trabalhador de uma cidade operária, não fui destinado a ser aristocrata ou milionário: a minha felicidade natural é-me vedada, que é o que acontece às camadas mais pobres.
Arrependo-me, por isso, parcialmente:
porque apesar de saber que cometi segredos perversos, maléficos, macabros,
sei que essa é uma condição relativa. Eu não sou um monstro aleatório. Eu nunca assassinaria a minha avó ou os meus vizinhos. Eu nunca me aventuraria, como Carl Panzram, a esmagar o cérebro de uma criança só porque sim, porque posso.
A única parte de mim que requereu o assassínio é uma parte fracassada: ela não queria assassinar, e ela não queria causar sofrimento a ninguém. Simplesmente, ela sofria uma asfixia da sobrevivência. A parte de mim que procura pelo direito à felicidade não pode estar arrependida, porque não chegou a encontrá-la: estava nessa busca mas foi interrompida, e vive apenas apatia, sem sentir ou perceber o prazer de existir.
Estando em prisão perpétua, não preciso de esconder o que deveras sinto, por mais que vos surpreenda. O tempo que passarei na cela de isolamento será, todo ele — dias ou meses ou anos — uma oscilação entre o arrependimento e a suspeita de que posso estar equivocado, de que o meu arrependimento se deve às condições da situação, e que ela pode mudar a qualquer momento. Afinal, não será impossível a hipótese tecnológica de futuros bonecos humanoides para resolver desejos perversos, ou a visita de determinados magnatas que aprovem os meus gostos e tenham poder para me tirar daqui.
Não sei, só o futuro o dirá. E como não posso descobrir qual a essência da minha passagem pelo universo senão depois de todos os dias que vivi, só no dia da minha execução, ou de uma inesperada absolvição, poderei concluir se eu era um monstro num mundo justo, ou se inocente num mundo hipócrita.
Portanto, se eu de facto estiver na maca para ser executado, nesse exato momento segundos antes da morte, pedirei mais uma vez desculpa por tudo o que cometi às vítimas que mutilei e aos familiares que magoei: aí, só nesse momento do fecho, esse pedido de desculpa será inequívoco, conclusivo;
e eu o cumprirei fechando os olhos com uma rancorosa inveja por todos aqueles que perpetuam crimes neste mundo — cometendo-os ou deles beneficiando — e continuam, por falta de castigo, por álibi de crença, por sucesso da sua moral, a incluir-se — e a sentir-se tão intimamente integrados — na lista dos legítimos herdeiros da humanidade.
vitrine
bancada: vidro. Há reflexos no vidro: reflete o que vem de cima, ou o que vem de baixo? Reflexo: numa superfície há duas coisas, não apenas uma: a própria e a outra. Como água do mar à superfície do mar: os reflexos do céu ondulam na onda: cruza com os peixes. Reflexo: os peixes têm mais perto o céu pela reflexão das ondas? Balcão cores outras que de mar: amarelo, castanho, dourado a nata, platina a lâmpada. Acima. Abaixo: confeitarias esperam. Saberão os peixes que estão abaixo? O céu o limite: é? Céu que podes tocar se te aproximares. Diferente do nosso, não se toca. Peixes há que saltam acima e voltam. Liberdade é essa, céu que se visita por um instante? Igual mergulhar em água: podes, mas exige prazo regresso tona. Nem acima nem abaixo: mundo outro apenas, igual vício de explorar estranho só um bocadinho. Pastéis ficam e não saltam: esperam, obediência de ser produto. Meus pés ali em baixo: fundo, rente ao chão. Pisam solo e não observam. São inferiores a pastéis? Mais perto do chão: mais sujo, menos separa entre ti e dejetos dos outros. De todos. Em chão cimento ou linóleo: dejetos dos outros. Chão de natureza é mais apetecível. Areia. Ervas. Musgos. Nosso: óleo, cigarro, papéis. Limpeza é tanto mais importante quanto mais a sujidade nociva. Deus no alto, criaturas em baixo. Isso dá à divindade limpeza absoluta? Mas em órbita, vácuo, no espaço, astronauta sem orientação: há cima ou baixo, ou gravidade? Onde não há chão nem queda, onde está o cima? Onde se guardam pastéis? Limpeza: perícia da gravidade. Deuses ou indivíduos limpos porque altos, ou no alto, arquitetura. O centro da terra: o lugar com maior lixo? O centro: gravidade. Maior confusão de matéria onde tudo se junta: o centro. Fusão. Coisas atraem-se. Centro atrai chão, atrai corpo, atrai vidro, atrai óleo, atrai pastel, atrai guardanapo. Sucessões da gravidade. Atrai lâmpada, atrai ar. Peixes no oceano, somos nós: ar é água que rodeia o mundo. Vento é correntes, vai, vem, empurra, ondulação é tempestades. Os corpos caem. Todos, em água ou ar: todos os corpos caem. Peixes também caem. Apenas: são mais leves. Do que a água. O que mais pesa, baixo fica. Peso,
corpo: arquitetura que níveis a níveis suporta a si mesma. Sentar: aliviar, sustento músculos ossos órgãos das costas, matéria que a si comprime. Materiais pesados dão contrito entre si. Levantar: esforço da vontade. Levantar, mergulhar, avançar: ir em direção ao menos propício: ao menos sustento do corpo, ou ao mais forte que contrarie outros pesos. Vontades da matéria, contrariar o fluxo: suster ao invés do peso para ser matéria que a si eleva. Mas osmose, bancada, reflexos, trocas de imagens numa só superfície: temperaturas que cruzam, substituem, ressonâncias que acumulam ou transmitem. Deus nas alturas é metade cosmos; outra verdade é, todo o lado. Fenómenos que se empurram, direções todas, primal é nenhuma. Terra não é o centro universo, céu não é só camada, a realidade é direções todas, mais que só uma. Trimetria: em mil dimensões a geometria divina. A não ser que plenitude seja tudo no mesmo, as coisas e o sujo, as alturas e o pó no chão, dejetos da gravidade. Beatitude, êxtase, é afastar do detrito, acumulação, vestígio: limpeza da essência exige seleção das coisas consoante a qualidade. Ou talvez nirvana: confusão entre sujo e limpo, toda matéria é assunto, todo o ponto tinta, não mais criatura em êxtase que precise de limpeza para no mínimo ela mesma. Só o caos o caos admite. Limpeza, vestígio, influência, microscópico,
invisível. Dedadas no vidro: pedaço de pessoa que ficou por ali. Ou: trazia poeira, transmite. Fome: olha em volta, observa: escolhe o objeto melhor à fome, pastel, pão, croquete: o olhar trespassa reflexo vidro-lâmpada-nata, transfusão prévia do processo antes de processo que se verifique. Pastel: de fora para o meu dentro. Limpeza rara que dá prémio, junção dos materiais que junta em vez de afasta. Fome do corpo aproxima as coisas: balcão e pessoas, pastéis, pães, bolo: corpos muitos, dedadas muitas, pisadas muitas, poeiras, óleos, cigarros, papéis, migalhas: sujidades muitas porque se cruzam e acumulam, mas limpezas porque prémio, aval ao pretendido: jornada, palato de um facto, ao lado detritos que não se implica. Mundos opostos, reflexo, cima e baixo, deus e objeto, fluidos orgânicos da troca, limpezas de espírito fronteira coisa que permanece clara em fenómenos que cruza. Fome, beleza, reflexo: beleza porque aprecia, ou desejo que devora porque fome a ondas da vitrine? Este, este, esse, aquele, ou, aquele, menos sal, menos doce, cor, dourado, fresco, queimado, menos queimado, por favor, este aqui.
EQUUS
3º Acto
«A Jill era ok. Queria andar aninhada a mim, fazer conchinha. Dizer-me que eu não deveria vestir calças assim ou pentear-me assado. É para isso que as pessoas namoram? Dizer o que fazer umas às outras. Os meus pais fazem. Andam sempre, tu isto, tu aquilo. O sexo é bom. Pelo menos, como ela me ensina. Mas é só isso.
«Com o Equus, eu cavalgava a noite inteira. Ninguém me dizia veste-te assim, veste-te assado. Para que é que eu me hei-de vestir? Ficar mais como o senhor Narigudo? Os cavalos não notam o que eu visto, e eu estou bem.
«Sei que se não sair daqui curado vou para uma instituição. Uma instituição a sério. Isso ou a prisão. Mas seria um fracasso, não, senhor doutor? Para si. Se eu fingir que fiquei bom, o que acontece? Você continua a meter o nariz na minha vida?
«A minha mãe fala no amor. Que eu um dia sentirei um amor íntimo. Mas ela não sente paixão. Será que ela alguma vez correu pelo meu pai? Não a imagino correr. Mas eu cavalguei. Os cavalos são mais apaixonados do que os humanos. Até aposto que eles se apaixonam mais do que nós. E não ficam agarrados uns aos outros só porque sim.
«Nessa noite, quando eu ceguei os cavalos, eu estava fraco. Agora estou melhor. Estou mais forte. Não sei como sei isso, mas sei que sim. O Sr. Narigudo não é mau terapeuta. Equus já não me assusta assim tanto.»
DYZART — Agradeço esta carta que escreveste.
ALAN — Eu já não penso isso. Pode deitar no lixo.
DYZART — É isso que pensas que eu vou fazer, obrigar-te a fingir?
ALAN — Fingir o quê?
DYZART — Aqui sugeres que vais fingir que ficas bom. Por que razão precisarias de fingir? Não queres ficar bom?
ALAN — Eu já me sinto melhor.
DYZART — Mas Alan, ainda mal começámos. Ainda estás fragilizado.
ALAN — Envie-me de novo para o estábulo. Vai ver que não. Eu continuo a trabalhar com os cavalos: continuo a ser bom com eles. O Sr. Dalton disse que eu era um bom profissional.
DYZART — Mas achas que ele vai confiar em ti a partir de agora?
ALAN — A terapia é para mim ou para os outros? Tudo isto é só para convencer o Sr. Dalton de que pode continuar a trabalhar comigo?
DYZART — Não apenas o Sr. Dalton . É para convencer a sociedade de que pode continuar a trabalhar contigo.
ALAN — Você não acha que dá para trabalhar comigo?
DYZART — Pouco importa o que eu penso.
ALAN — Mas você é o médico!
DYZART — Alan, o que tu cometeste é um crime. A lei está acima de mim. E de ti.
ALAN — O que interessa à lei é que eu não volte a fazer o que fiz. Não volto.
DYZART — Como podemos ter a certeza disso?
ALAN — É isso o que se considera eu ficar curado? A lei poder saber que eu não vou cometer mais crimes?
DYZART — Não. Ficares curado é libertares-te do Equus. Daquilo que te fez cometer o crime.
ALAN — E se eu não quiser?
DYZART — Como assim?
ALAN — O que é que ele me fez?
DYZART — O que é que ele te fez? Muito.
ALAN — Tudo só porque eu não consegui enfiar o pau na Jill naquela noite. Mas era a minha primeira vez. Com uma rapariga. Na sua primeira vez, você conseguiu? Na primeira vez.
DYSART — Mas Alan, é mais do que isso. Equus oprimiu uma parte de ti.
ALAN — Você conseguiu?
DYSART — Uma livre expressão do teu afeto, da tua sexualidade.
ALAN — Você não me respondeu. Você conseguiu? Na primeira vez.
DYSART — Não.
ALAN — Que me interessa enfiar o pau na Jill, que me interessa enfiar o pau em todas as raparigas deste mundo? É isso que vai fazer a sociedade pensar que eu já sou competente? Como a mãe e o pai?
DYSART — Eu não quero forçar-te ao que seja, Alan. Eu gostaria que me dissesses que te ajudei a ser independente, capaz de te apaixonar por quem quiseres, sem ter o Equus a possibilitar-te ou a impedir-te.
ALAN — E se eu me quisesse apaixonar por um cavalo?
DYSART — Desde que não voltasses a magoar mais nenhum, isso não me seria um problema.
ALAN — Se calhar os melhores tratadores de animais são apaixonados por eles.
DYSART — A questão é se um animal pode dar-te aquilo que um ser humano — uma pessoa — te pode dar. O que achas que um animal te pode dar, que uma pessoa não?
ALAN — Que pessoa? A Jill? Ela gosta de dar miminhos no sofá. Isso é bom, mas aborrece-me. Que outra pessoa? Alguém, como diz a mãe, com quem eu queira ter uma casa? Para quê? Para ser mais igual ao pai e à mãe?
DYSART — Tu cresceste numa casa. Mas essa casa é dos teus pais. Se quiseres pode ter uma casa tua, para viveres à tua maneira. Para teres filhos. Ou não. O que queiras. A liberdade é tua.
ALAN — E se eu quiser viver livre?
DYSART — Como assim?
ALAN — Os cavalos não têm casa. Quero dizer, alguns vivem em estábulos... Porque as pessoas os metem lá. Mas os cavalos selvagens não sabem o que é isso.
DYSART — Podes viajar se quiseres. Podes ser nómada.
ALAN — As pessoas têm televisão porque não andam a cavalo. Os meus pais não, saem do trabalho e vão para casa ver tv. Ou ler o jornal. O meu pai lê o jornal. Ou lavar a loiça. Jesus Cristo não tinha casa.
DYSART — Jesus Cristo comia o que lhe davam. Não era ele quem cozinhava para si. Outras pessoas precisavam ter uma cozinha, ou o que se compare com uma cozinha.
ALAN — Mas porque é que a mãe fala tanto em Jesus Cristo se ele não é nada parecido com ela? É porque ela não tem coragem? Gostaria de ser livre como ele, mas não é.
DYSART — Alan, todas essas perguntas são válidas. Não sei a resposta.
ALAN — Você é feliz, Sr. Narigudo?
DYSART — Alan, eu...
ALAN — Gosta de fazer o que faz? Dizer às pessoas, estás doente, estás curado.
DYSART — Eu não quero alguma vez dizer que estás doente.
ALAN — Eu estava a brincar. Não estou apaixonado por nenhum cavalo. Não estou apaixonado por ninguém. Eu não preciso de estar apaixonado por ninguém.
DYSART — Tudo bem. A questão não é essa.
ALAN — Eu não quero cuidar de ninguém. Não preciso de ter casa. Ou jornais. Ou tv. Eu sei fazer um bom trabalho. As pessoas gostam de mim. Eu sei disso. Sei que escreveram coisas más sobre mim nos jornais.
DYSART — Nos jornais? Como sabes? Quem te disse?
ALAN — Eu sei ser.
DYSART — Não te guies pelo que os jornais escrevem. Eles escrevem para vender.
ALAN — Mesmo que não seja verdade?
DYSART — Especialmente se não for verdade.
ALAN — É para isso que eu vou ficar curado? Para esse tipo de gente?
DYSART — Nunca para esse tipo de gente, espero.
ALAN — Podem escrever o que quiserem. Podem pensar o que quiserem.
DYSART — É um facto. Ouve,
ALAN — Se houvesse jornais no tempo de Jesus Cristo, era sobre ele que escreviam os jornais!
DYSART — Alan, podemos falar sobre isto numa próxima sessão. Todas as coisas de que queiras falar, podemos falar. Agora já estamos na hora. Mas preciso que me prometas uma coisa.
ALAN — Mais uma, Sr. Narigudo?
DYSART — Preciso que me prometas ser honesto comigo. Eu não estou aqui para te enganar. O meu trabalho é ajudar-te. Preciso que sejas sempre honesto comigo, sabes isso? O que falamos aqui é secreto, não sai destas paredes. Podes sentir que não podes falar nada com ninguém, mas aqui podes. Eu prometo.
ALAN — Acho que já lhe disse coisas a mais.
DYSART — Prometes?
ALAN — Prometo o quê?
DYSART — Que serás sempre honesto comigo. Não precisas de fingir o que quer que seja para mim.
ALAN — Isso é por causa do que eu escrevi na carta? Eu já disse, era a brincar. Mudei de ideias. Pode deitar no lixo.
DYSART — Se estiveres apenas a tentar enganar-me, eu terei como descobrir.
ALAN — Então para que precisa que eu seja honesto?
DYSART — Alan, entende: só eu tenho liberdade para te tirar desta clínica. Estás sob a minha responsabilidade. O juiz — ou a sociedade, se assim quiseres chamar — colocou-te a meu cargo. É pela minha avaliação que eles vão decidir o que fazer contigo. Pôr-te em liberdade, ou enviar-te para algum lado.
ALAN — Mas eu já disse que o que escrevi era mentira.
DYSART — E o Equus?
ALAN — Você não sonha com matar crianças? Você é saudável?
DYSART — Eu sonho com matar crianças, mas eu nunca matei crianças.
ALAN — Eu é que nunca sonhei com matar crianças.
DYSART — Fico feliz por isso. Vemo-nos amanhã.
ALAN — Acabámos por hoje?
DYSART — Sim.
ALAN — Posso ficar com a carta?
DYSART — Não. Eu fico com ela. Mas guardo-a aqui, se um dia quiseres reler.
ALAN — Vou deixar de escrever cartas. A gente diz o que depois era mentira.
DYSART — Não te preocupes. Às vezes assim acontece.
—
DYSART — Foi a última vez que o vi. No dia seguinte informaram-me que ele tinha fugido durante a noite. Roubou alguma comida da cozinha e levou um casaco dos funcionários. Para onde correu, não sei. A polícia esteve à procura dele. E eu só consigo imaginar: será que ele roubou algum cavalo? Será que ele teve a coragem, um miúdo tímido de 17 anos, de pegar num cavalo e evadir-se para longe, para bem longe? Duvido que ele sobrevivesse; após a primeira noite de fome estaria certamente em casa. Mas por outro lado, ninguém sabe que distâncias ele pode já ter feito. Afinal, cavalgar era aquilo que ele fazia melhor. Era a única coisa em que nenhuma das pessoas da vida dele — a Jill, o Dalton, os pais — podia superá-lo. Certamente ele não se cansou logo na primeira hora de fuga; não nessa perícia que era a dele, e só sem a qual ele era apenas um rapazito inferior a todos o que o rodeiam — inferior nos conhecimentos, no estatuto, na liberdade, nas habilidades. Durante meses eu esperava ansiosamente por uma notícia da clínica, da polícia local, dos tribunais. Lia os jornais nacionais à procura de um qualquer indício — um cavalo roubado, marcas de um forasteiro dormindo nos estábulos, boatos de cavaleiros vagueando durante a noite. Depois de algum tempo, Alan acabou por desaparecer da minha mente. Nunca mais ouvi nada sobre ele. Hoje passaram-se 7 anos. Neste dia, neste preciso dia, ele se evadiu. Se saiu do país ou por cá anda, não sei. Se encontrou uma comunidade nómada, ou se se tornou um eterno viajante, trabalhando aqui e ali, ou mesmo roubando, não sei. Talvez ele tenha continuado — e aceite — a sua atribulada relação com Equus, e cometido outros crimes, e fugido, e encontrando repetidamente um novo caminho. Afinal, cavalos é o que mais facilmente se encontra por todo o território, menos fácil é encontrar boas pessoas para trabalhar com eles. E quem foge continuamente em frente não precisa de analisar os erros do passado. Talvez ele tenha de facto encontrado um modo de vida que nenhum de nós sonha: cavalgando em direções e horários que ninguém entende, castigando-se e sacrificando-se com os seus rituais e o seu chinckle-chanckle, do mesmo modo que outros de nós se vão expurgar na igreja ou reunir em certos locais praticando a meditação. Certamente terá menos do que nós os hábitos de limpeza a que estava habituado; por outro lado não terá prateleiras onde ter de guardar as coisas, e qualquer lugar lhe serve para os dejetos, e qualquer paisagem lhe dará mais arrebatadora emoção mais do que aquela que temos no conforto das nossas salas. Espero que em todo o caso ele esteja vivo. Uma parte de mim deseja que ele assim esteja de facto, a viver numa liberdade pérfida totalmente fora da previsibilidade das nossas mentes. Talvez ele possua de facto qualidades que nunca ninguém viu nele e nunca poderia ver, porque ele se movia no mundo dos outros, ditado pelos outros, um mundo onde eram os outros a definir que habilidades são valiosas ou não. Talvez ele tenha razão. Talvez sejamos, cada um de nós, definidos pelas nossas habilidades. Talvez a estrutura inteira de uma sociedade se alicerce articulando as capacidades médias do ser humano: de modo que a inteligência média de uma pessoa, a coragem média de uma pessoa, a habilidade média de uma pessoa, a crença média de uma pessoa, contribuem para a estabilidade do conforto que temos e queremos ter, num balanço cuidado entre os extremos do risco e do tédio. Seria injusto acusar cada uma dessas pessoas da sociedade de uma falta de intensidade como as que lemos nos poemas épicos. Os heróis homéricos nunca existiram, pelo menos não desse modo. Talvez seja um absurdo acreditar que Jesus Cristo sim: que foi um indivíduo capaz de todas essas proezas que dele se contam, de modo que apenas podemos martirizar-nos pela nossa mediocridade, pela falta de fé que, havendo, nos faria conseguir o que ele nos promete. Talvez haja em todos nós um desejo de superação, uma concórdia com essa rebeldia crucial que faz destruir hierarquias ou criar revoluções, embora em termos logísticos todos precisemos de uma muito prática e benéfica prosperidade. Alan não me parecia um jovem particularmente inteligente, embora decerto o seu ambiente familiar não o tenha estimulado muito, nem intelectual nem emocionalmente. E ainda assim, vejo nele um rapaz debatendo-se pelos desejos de que ele sabe que era capaz, sabendo que mais cedo ou mais tarde teria de fazer uma escolha, e essa escolha exigiria muito provavelmente uma decisão radical de tudo ou nada.
Talvez seja tempo de eu fazer uma pausa. Não por cansaço ou esgotamento. Não por monotonia ou desejo de férias. De férias: de sair da minha rotina para voltar com mais energia para ser o que já era. Talvez eu queira voltar à Grécia, sem saber o que vou lá fazer. Afinal, todos temos as nossas obsessões, e eu não sei o que me dizem as minhas. Se eu nunca mais me deparar com o Alan, sei que uma parte de mim nunca deixará de se lembrar, onde quer que eu esteja. De certo modo, até prefiro que nunca aconteça encontrarmo-nos. Seria uma lástima encontrá-lo de facto e vê-lo tornado um homem decente, um homem comum, socialmente aceitável: com alguma responsabilidade e alguma hipocrisia, uma boa alma não demasiado apaixonada pelos outros nem demasiado facínora, com algum segredo imundo mas bom pagador de impostos. Eu preferiria — eu sei que prefiro — sabê-lo fora deste nosso mapa, indetetável às nossas regras. Não é que tivesse algum benefício para mim ou para quem quer que seja. Mas seria justo — ou pelo menos assim eu gostaria de acreditar — saber que esses espécimes que se mostram assustadores, de tão diferentes de verdades externas, não se deixam domar por uma população inteira. De modo que quando a natureza gera elementos raros em contraste, eles assim continuam, para o bem ou para o mal, e só a si próprios servem de referência.
—
Este texto é apenas um pensamento solto; não apresenta qualquer ambição de continuar ou completar a extraordinária obra dramática Equus escrita por Peter Schaffer
corrida
3,
3,
2,
2,
1,
1,
Vai! Vai!
perna à tenta dar
frente velocidade
dá o tudo com passos
por tudo amplos,
nos 1os agora salta
metros salto amplo
depois amplo
vês como amplo
o outro amplo não
avança escorregues
cuidado contorna
com a poça essa poça
de água de água
tenta não agora respira
tropeçar, dá braçadas
se cais esq — dir
agora esq — dir
aleijas-te esq — dir
a sério expira força
não traves não canses
vai só a corre mais
direito rápido mas
o primeiro respira
ponto é com calma
o sinal passar pelo
S T O P S T O P
ainda vamos respira
a meio mais devagar
e já estou controla
morto controla
...
...
sou mais dói-me o
velho do pé será que
que ele continuo,
deveria não quero
ganhar por perder, mas
ser mais também não
sábio travar;
mas músculos é melhor
já não ter dor e
para quê insistir
isto? desafio na vida, ou
estúpido travar e
a humilhar-me ser tranquilo?
Que vantagem Esperança
é correr a seu ritmo
mais rápido ou ultrapassar
? a dormência
que humilhação para ser
Sou mais furacão?
baixo do Viver não
que ele é banal
preciso de é violência
dar mais sangue e
passos tamanho músculo
é já vantagem e ninguém
eu faço vive
mais esforço por nós,
mesmo que a morte é
não consiga o descanso
mesma a vida; vai,
distância, esq — dir
mal consigo esq — dir
respirar nunca
resp- desistir
vai
...
...
Mas todo o
já não dia é
consigo, cansativo,
desisto quando é
pelo menos que dá para
até ao ser incansável
poste isso sem descanso?
faço pelo Se eu corro
menos até sem parar
aí tenho de ir e cismo e
estou quase, esfolo como
insisto, agora,
aperta P O S T E
está quase se vou à
P O S T E frente não
ah vou cair poderei
estou desgraçado descansar?
não aguento Ser melhor
vou esbarda do que os
lhar-me outros é bom
acho que é e se eu
melhor corro e salto
esbardalhar- e ganho e
-me mesmo sou o melhor
ao menos onde está
o aparato o prémio?
dá impacto, A aventura
perco mas é correr sem
com potência, parar? Quando
motor que saltou é que isso
dos eixos para? Insiste
pela cilindrada só mais
ou sou mais um bocado
sábio porque últimos 50
penso e digo metros
isto é cuidado com
ridículo a sombra no
corrida sem T Ú N E L
sentido obscurece a
agarro-me vista cuidado
aqui à já não
parede do sinto as pernas
T Ú N E L nem esta
deixa-o nem esta
ir, seguir osso estalo
até lá à tendão
frente, até joelho
ao poste, contrai o
maturidade joelho
é isto tenho de
ver os novo parar mas
seguir... ganhei
parvoíce consegui
nada disso reduz abranda
somos colegas trava aos
e qualquer um poucos não
observa o afetes o
outro, seja joelho
onde esteja respira fundo:
na corrida viver é
treinador só correr
olha sempre ou tem
de fora pódio,
nunca corre, descanso?
só de fora competição
se pode é só comigo
dar conselho ganhar é
eu a ele ultrapassar
ele a mim... à frente
Gostei correr ou correr
mas é demais pela amizade
para mim não posso,
queria ganhar não posso
perdi estou comparar-me
embaraçado aos outros
deveria a vida é
não ter minha a
corrido amizade essa
? preciso é os
respirar outros
respi, rar, o que estou
res pi aqui a
Não quero pensar?
que ele fique olha para
vaidoso trás, onde
só porque é que ele
eu não ficou?
consegui ...
a meta, isso
diz pouco ...
sobre ele, Dói-me o
mais facil- joelho,
mente diz dobra, exer-
vivi muito, cita no
mais, chão,
algures Onde está ele,
...
ali, está
cansado
Ah, não pudera
consigo ali, eu
pensar, também
...
agarra ganhei,
parede o assunto
Respira fundo da conversa
Dentro... é isso,
ou nem é
preciso,
Fora... fez-se, está
feito, está
Que pose
tomo eu
feito
agora?
descansa
devagar
velocidades da articulação
A cena: uma entrevista de emprego.
Vejamos: uma pessoa entra e senta-se a uma mesa onde outra já estava sentada.
Vão ter uma conversa que tanto pode durar 10 minutos quanto uma hora. Mas em qualquer das hipóteses, a pessoa que entra é convidada a sentar-se.
Não porque esteja necessariamente cansada.
Mas seria desumano obrigar uma pessoa a estar 1 hora de pé.
Isto passa-se lá em cima, lá no gabinete.
Vamos descer:
Lá em baixo, há uma linha de produção.
Linha de produção:
um corredor com diferentes etapas: em cada etapa é concluído um pormenor.
Como numa viagem que se faz de comboio, observando o mudar das árvores. Para quem observa, a paisagem vai mudando.
Para quem está lá fora, no lugar onde está, a árvore onde está é sempre a mesma.
Para quem quer que esteja em qualquer lugar da linha de produção, a situação é esta: a coisa em que trabalha é sempre a mesma. Só quem viaja ao longo da fábrica vê a evolução de uma coisa que, mais à frente, está acabada, conseguida.
Cada posto de trabalho é só um desses instantes: uma das tarefas intermédias que se faz sem ver o antes ou o depois.
Por exemplo: 3.000 vezes apertar um parafuso.
Fazer 3.000 vezes por dia a ação x.
Fazer 3.000 vezes por dia o gesto y.
Imaginemos a quantidade de gestos que se faz ao longo do dia:
sentado, deitado, de pé, de pernas para o ar: todas as variações do atalho ou do devaneio; comer, abraçar, lançar, abrir, desmanchar, coser, agredir, dançar...
Um dia, 24 horas: uma sequência dispersa de tarefas de complexa gestão e resultado. Como quem viaja pelo universo entre a manhã e o crepúsculo e faz aí uma jornada inteira com um pouco de tudo o que a vida inclui.
Na fábrica é o oposto. É uma só parcela.
Cada parcela calha a um trabalhador diferente.
Como se fosse assim: a este, calha 3.000 vezes assoar o nariz. Àquele outro, calha 3.000 vezes abrir a porta.
Uma função ingrata, claro. Mas alguém tem de o fazer.
Afinal, a produção implica todos estes passos. E o produto é importante, é coisa necessária. Ou se não: muita gente compra, tem valor de mercado.
Portanto, alguém tem de o fazer.
(A justificação para qualquer tipo de tarefa é sempre esta:
alguém tem de a fazer).
Afinal, o que importa é o resultado, não o modo como se faz. A tecnologia só se preocupa com o modo mais eficiente de chegar ao resultado. A tecnologia não se preocupa com o conforto da pessoa que faz, nem com as variações do estado de espírito.
Principalmente em pessoas que não são assim tão importantes.
Afinal, enroscar um parafuso é coisa que qualquer um faz. Portanto, pouco se ganha e pouco se perde se for fulano B em vez de fulano A a fazê-lo.
Haverá sempre um fulano A, ou o fulano B, ou o fulano C, que faz.
3.000 vezes um gesto x.
Como um atleta que treina para o novo recorde de velocidade: treina durante o ano inteiro para ver se consegue diminuir uns segundos ao trajeto. Ou seja, para se tornar mais máquina, mais do que só pessoa.
O que exige recursos, claro. O atleta tem-nos, e mais se especializa no acto de ser atleta quanto mais os tem: equipamentos, fisioterapeutas, sessões de relaxe, conselheiros, patrocinadores, medicina. Afinal, ele está a especializar-se numa coisa que não é natural, é algo de mais específico para o normal organismo: como por exemplo correr 20Km todos os dias, ou: correr a 41 Km/h.
Quanto ao operário, na fábrica, é semelhante, mas diferente.
É na mesma uma questão de recorde, mas ao contrário: a máquina já definiu a fasquia, o que ela consegue é um valor exato, e são 3.000. Portanto, se o trabalhador quer estar ao nível da produção, tem de afinar-se por isso. Porque trabalhar menos depressa, ter mais relaxe ou mais pausas, seria fazer 2.634 gestos por dia, e matematicamente já se sabe que poderia ser mais, porque a máquina consegue mais.
Não que a velocidade de uma linha esteja de antemão definida. Mas a velocidade da máquina, considerando a entrada e saída do material, e a velocidade dos rolos, e a da queda dos blocos, aproxima-se deste valor exato, e consegue-o. Portanto, haveria que desejar menos? E temos um armazém tão grande e tão novo, e as máquinas conseguem produzir cem vezes mais o que um humano consegue... Será muito querer averiguar até onde a pessoa consegue?
Talvez uns 3.300 gestos por dia?
Afinal, se o conseguirmos é porque a limitação afinal não existia. O corpo humano de facto consegue: nós é que pensávamos que não seria possível. Porque nunca pensámos que seria admissível.
É assim que a humanidade progride: desmascaramos limites que pensávamos intransponíveis. Mas afinal não é o caso. Há que sempre questionar os limites, nunca dar um valor por certo. Portanto,
temos uma notícia para vós.
Queremos que vocês alcancem mais alto. Queremos que vocês avancem além de vós mesmos, além do que vocês próprios acreditariam possível.
Eu sei, exige coragem e audácia.
Tu, por exemplo, não te imaginas a conseguir mais do que só 3.000 apertos por dia? Afinal, a parte lírica tu percebeste. Eu sei, é difícil ter sempre este tipo de motivação na cabeça. Por isso nós vamos ajudar-te na parte prática.
Uma maneira simples de resolver o problema
(e não exige sequer persuasão, vem por instinto):
a linha de produção é que manda.
Observa:
a engrenagem vai mais à frente, sempre mais rápido do que a pessoa. Coloca-te aqui: repara, a velocidade é esta: agora tens de seguir, caso contrário ficar para trás, entopes o sistema todo. Não te desleixes: repara, o tapete de produção avança sempre mais rápido do que tu. Mal se nota, é só um bocadinho, nem é nada de mais. Na prática não é o suficiente para te fazer dizer “impossível!” nem o que de compassado te faça dizer “fácil!...”
Em suma: não é a pessoa que decide a velocidade, não é ela que diz: agora mais depressa, agora mais devagar. É a máquina que diz:
anda, corre!
É diferente de quem enrosca um parafuso em casa, ou na garagem, ou no jardim. Aí, talvez a pessoa pausasse e ponderasse se está a fazer bem, se apertou demasiado: coisas que têm a ver com arte e pensamento. Mas na fábrica tal não é preciso: é só um parafuso, e já apertaste milhares de milhares nos últimos meses, para que precisarias de hesitar agora? Agora é só aumentar a velocidade, seguir o fluxo.
Para quem olha de fora, é simples definir o termostato da velocidade. Os trabalhadores estão a fazê-lo de modo tranquilo? Estão? Ah, fazem-no com uma certa facilidade? Se sim, é porque a máquina não está afinada no seu máximo. Porque o máximo será:
os braços fazerem-no com atribulação.
Tudo o que está em conforto pode sempre colocar-se num nível mais rápido.
Repara, é esse o trabalho do atleta. Ele já tem tudo o de que necessita para conseguir a meta. Só lhe falta exceder-se, encontrar o pulso extra que lhe permite atingir o pequeno centímetro que falta. Mas como ele não tem uma máquina a puxá-lo, é ele que tem de definir a ambição do seu ritmo, o excesso do seu ritmo.
Para isso, ele tem outro tipo de exercícios:
exercícios de acordar os músculos,
(não olhes para o lado, hoje o que vamos fazer é nesta direção, e será intenso)
exercícios de regulação,
(quando o pulmão diz: já chega, ou: não aguento)
exercícios da paixão,
(a minha vida depende do ponto X a 100 metros)
exercícios da persistência,
(sei porque estou a fazer isto, embora custe)...
Como quem está atrasado para o autocarro e não pode perder esta viagem. Ou quem está a fugir de uma metralhadora.
É esse o tipo de paixão de quem corre como um atleta: sabe onde está a meta, sabe todo o porquê, e sabe a vontade que isso exige para chegar lá ao fundo, lá onde está a meta.
Aqui na fábrica precisamos disso: dessa ambição, dessa capacidade de observar lá ao fundo, ver a meta quando se está só num ponto intermédio.
Mas na fábrica ninguém assinou o contrato da paixão, claro: ninguém sabe onde está a meta ou quando se lá chega, porque essa meta não existe. Ninguém está a correr em direção nenhuma, nem valida a sua vida com esta corrida, e esta corrida não termina hoje nem amanhã: simplesmente, não tem prazo.
Até porque numa atividade que não exige pensamento, nem dúvida nem ponderação, o conceito de motivação também não precisa de existir.
Motivação é o que dá início a uma tarefa: ali, a linha de produção nunca pára, está dia e noite no ativo. Portanto já não precisa de motivação, só precisa de inércia.
Está-se simplesmente em constante velocidade de chegar atrasado, como quem se atrapalha a sair de casa porque o autocarro está a passar.
Durante 8h, hoje, a tua atividade é esta: vais estar continuamente atrasado para o autocarro.
Multiplicar por 3.000 o correr para o autocarro.
Isto é matricial. Só assim uma linha de produção funciona: todas as engrenagens têm de estar no seu máximo. Um motor só funciona quando todas as partes estão ao rubro. Saúde não é o bom estado de alguns órgãos: saúde é o bom estado de todos os órgãos.
A saúde de uma fábrica é toda a gente estar ao seu máximo: em termos de velocidade, é toda a gente estar no sprint do atraso. O contrário seria: haver quebras de cada vez que alguém se desleixa ou descansa. Mas imagina a quantidade de vezes que um sistema inteiro pára por causa de cada engrenagem que, a cada momento, diz que tem de descansar. Isso é impraticável, é impossível.
Daí que há uma grande diferença entre a fábrica e a maratona, eu sei disso. A meta aqui não existe: é continuar, indefinidamente. Onde hoje se pára, amanhã continua. Não existe um prémio final.
O prémio é: eu pagar-te enquanto continuas atrasado.
Não é por acaso que não há cadeiras aqui na linha de produção. A cadeira sugere o descanso, o ligeiro alívio do organismo. Mas a indústria que aqui se desenvolve não pode estar dependente disso.
Não fui eu que tive esta ideia, a de não colocar aqui cadeiras. É uma prática muito comum em muito lado. E nem sequer tem só a ver com fábricas. Em quiosques, em restaurantes, em armazéns, verás facilmente muitos lugares onde as cadeiras são banidas. O que eu acho bem. Uma cadeira dá a sensação de que as pessoas podem ser preguiçosas.
Num sítio onde não há cadeiras não pode haver preguiça.
A única grande habilidade na indústria é a persistência.
Deverás ficar feliz se alguém te perguntar: quantas brocas perfuraste ao longo da vida? E tu dizeres: algo como três mil milhões de brocas. É um número impressionante. Pouca gente chega aí.
A quantidade de gestos que uma articulação faz:
semelhante ao motor que faz 30.000 rotações ou uma dobradiça que faz 1.000.000 aberturas.
Você vem aqui reclamar que este objeto avariou? Mas olhe lá, ele já teve 3.730 utilizações consecutivas... Já está fora da garantia. Já passou do ciclo de vida.
O mesmo se pode dizer de um atleta. Em termos motores é isso que acontece: já tem 35 anos, já fez quarenta maratonas: já ultrapassou o ciclo de vida. Fez o que mais ninguém fez. Mas isso tem um preço, claro, como acontece com todo o organismo. Já fez quarenta maratonas, já ultrapassou o ciclo de vida.
Uma pessoa chega a casa. Uma pessoa: mas não é um atleta. Veio de carro e não houve trânsito, o que é bom: não teve de correr para apanhar o autocarro.
Está feliz por estar finalmente em casa. A criança pede-lhe: levanta-me! e a pessoa tenta, mas não consegue. O braço não consegue. Já fez aquele gesto hoje, 3.300 vezes. Por mais que queira, não consegue fazer o gesto n° 3.301.
É claro que não se trata de uma questão de importância.
Gostaria de dizer à criança: agora sim queria fazê-lo, mais do que todas as 3.300 vezes de hoje. Mas em termos de agenda, vens depois, eu não consigo, é o 3.301.
Uma articulação que já abusou dos usos: já excedeu a conta, ultrapassou o ciclo de vida.
Numa sala, lá em cima, no topo da fábrica, há uma entrevista de emprego. Alguém bate à porta, entra e senta-se onde outra pessoa já estava sentada.
Precisam de novos trabalhadores. Um trabalhador antigo atingiu o colapso, já não consegue mexer os braços. Algo rotineiro, faz parte do ofício: teve baixa, terá assistência, terá isenção médica para o resto da vida.
Faz parte do ciclo, dos prazos da vida.
Enfim, você que entrou, sente-se, conversemos.
A pessoa senta-se e ambas conversam, numa conversa que pode durar horas ou dez minutos.
Pode demorar 1 hora ou só dez minutos: mas seja para o que for, o primeiro passo é convidar a pessoa a sentar-se. Afinal, para falar de coisas sérias é preciso uma certa tranquilidade.
E manter alguém de pé por uma hora seria desumano.
obediência
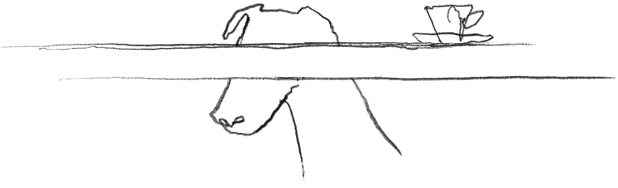
Os dois cães olham um para o outro por baixo da mesa.
Não é que tenham algo a dizer entre si.
Aliás, eles apenas esperam.
Cada um com a sua trela.
Os donos conversam tranquilamente sentados à esplanada.
São um casal: seguram cada um a trela de um cão
de que ambos são donos.
Os cães conhecem-se portanto, são colegas. Amigos. Irmãos. Amantes.
Conhecem-se a mútua personalidade.
Em casa, aliás. Conhecem-se a mútua personalidade em casa:
quando juntos, sozinhos, ou livres, quando nesse espaço que de seu
lhes permite fazer o que lhes apetece.
Aqui é outro. A rédea é curta, perto da mão:
mal dá para sentar ou para andar meio metro, só dá para estar à espera,
pescoço a meia altura, frente à mão que segura a trela.
Olham-se um ao outro como quem tem curiosidade,
uma curiosidade sinistra:
dadas as condições estreitas desta situação, o que consegues fazer?
Nenhum consegue fazer muito: apenas olhar e estar à espera, em pose rígida,
como se isso fosse um comportamento seu.
Mas não é. Nada daquilo corresponde à sua personalidade.
É igual ao porteiro militar que cumpre a função estando estático:
não se pode dizer que aquilo corresponda ao Jorge.
Apenas: ao Jorge é pedido fazer aquilo.
Igual ao escravo na Grécia antiga
que serve certos caprichos do dono sem os entender,
e o faz calado e como quem aceita, perante os olhares dos outros.
Ou como a criança que leva um raspanete dos pais ou dos tutores
por uma qualquer trapaça que cometeu,
e sabe que naquele momento a sua função é estar calada,
enquanto as outras crianças assistem com desconforto e prazer:
o de não serem elas a, desta vez,
estarem ali, em público,
a sofrer aquilo.
Ser mandado por alguém:
uma espécie de dupla-personalidade da rotina,
quando metade da vida é comandada por nós e a outra metade,
em momentos específicos, é ditada pelas regras de outro —
progenitor, superior, estado, escola, instituição, logística, adversidade, destino —,
de tal modo que não sabemos se a melhor parte é desrespeitar ou cumprir.
Cumprir é bom: dá-nos a certeza da igualdade, porque é dessa unanimidade
que podemos saber haver uma lei que se aplica a todos,
num mundo que nem sempre vê todos na mesma medida,
Ainda que nos faça sentir por vezes cumprirmos um papel estranho,
o de uma apática obediência,
quando o universo nos pede aceitar um comportamento
que temos de mostrar, cumprir, executar,
embora não seja nosso no nosso mais fundo,
e nem sequer aquilo pelo que os outros de nós conhecem.
Mas afinal, toda a tarefa que se cumpre é, em parte,
uma personalidade que não se tem. Simplesmente,
naquele momento o meu corpo tem de fazer aquilo,
quer eu queira quer não,
contra impulsos e desejos meus mas outros.
O mundo é gradações variadas na amplitude diversa de cumprir
aquilo que não se é verdadeiramente em motivações complexas do sentido.
A não ser que se aceite, de bom grado:
a não ser que se escolha as condicionantes rígidas
que a arte, a disciplina, a ética ou a técnica me exigem cumprir
para eu mesmo chegar ao meu próprio objetivo.
A isso, sim, se chama mestria.
A lei que não se entende e cuja utilidade se despreza, essa talvez, será o oposto:
o que não nos convida senão ao tomar nosso um hábito da personalidade
que de nós tem verdade nenhuma a ver com aquilo.
Como aceitar uma escravatura sem sentido.
Ou um amor possessivo.
Ou as diferença de justiça pelo mundo.
Ou a morte.
Afinal, se eu compreender a pertinência de uma imposição do mundo,
uma limitação árdua mas diferente das que não fazem sentido,
conseguirei mais facilmente aceitá-la, abraçá-la, incluí-la?
Como quem descobre, por astúcia, por sensibilidade, por dissecação profunda,
quais os aspetos que são, por segredos de técnica e natureza,
integrais à receita poética do cosmos.
Os cães certamente não sabem isso.
Nem eles nem qualquer criatura — papagaio, criança ou escravo —
a quem não foi explicada a lógica de certas trelas no mundo.
Não lhes é pedido ter uma opinião, quer concordem ou discordem.
Mas enfim, aquele tempo é breve:
eles cães sabem que aquilo só dura o tempo do café dos donos;
depois podem voltar a casa e soltar rédea
e ser aquilo que já sabiam que iriam poder ser,
se puderem sê-lo; e este entretanto não custa assim tanto,
é só um breve momento.
Ainda que durante esse breve momento
o tempo lhes pareça uma eternidade,
uma em que se existe e não é suposto ter articulação,
ou pensamento, ou impulso,
e treinar a habilidade de ser vazio por tanto quanto preciso,
tal que o máximo que podem fazer é de vez em quando olhar um para o outro
— para o companheiro de tortura —
e, num exercício curioso de observação, procurar saber de que modos
aquela outra personalidade
— o Jolly, o cão astuto de olhar acizentado —
se comporta numa situação
em que lhe é pedido ter personalidade nenhuma.
mensagem
do caranguejo
não te assustes, não venho atacar
gesto que trago é só mensagem
não tem palavras, coisa que se vê
de fazê-lo assim e assim
esta tenaz amarela, vês?
— amarelo vivo —
eu sei que as cores não têm utilidade,
são só decoração, mas indicam assuntos úteis
como a temperatura de uma coisa ou a humidez
na verdade, eu ter tenaz amarela
é só pigmento,
engano que dá aos olhos ver quente
o que possa ser frio
ou luminoso o que possa ser casca, mas funciona
é frio e casca e amarelo e luminoso
— como eis isso? —
qualidades outras que a matéria mostra
e o olho sabe que não é assim
mas sente que é assim,
alegria das impressões à retina que vê tudo
vendo em tudo todos os aspetos possíveis
daí veres tão claramente
por amarelo-tenaz que eu trago à vista
gema quente em areal quartzo-pálido
neste céu azul em que te encontro
a minha tenaz —
eu abano-a assim, olha
para este lado para este lado
sei fazer isto e sei fazer outras coisas
se for numa luta, é assim que faço
para convencer ou recuar — vês?
consigo: sou hábil, sei-o, posso-o
está no inventário da minha natureza
mas se tu vês aqui só manuseio
sem motivo, exibicionismo,
não faz mal, eu sei isso:
exibo-me,
é certo,
isto é só ação sem função, esforço de direção
ao nada, que daqui nada se produz,
e ainda assim, e ao mesmo tempo,
faço brincadeira de criança, girino,
fazer de conta fingindo coisas reais
desse modo que são reais
quando no real acontecem
quando tu mexes em direção ao incentivo
caçar ou fugir ou aninhar ou soltar
passa-se o mesmo:
brincadeira que leva ao músculo
excitações do impulso —
frio da fuga
calor da rocha
visco do ninho
aperto do contacto
iniciativas vagas que estalam nos coloridos do interno
e te fazem querer ir mais para fora
como quem sai do corpo e o traz consigo
assim também sou eu,
fluxos de goma que dizem sim! —
à corrente, ao sol da excitação
espuma, sal, plâncton, coral, cobalto, carmim
eu nem sei porque mexo
quando mexo,
biologia é fazermos por instinto
o que está ao jeito da nossa espécie,
mas se uma criatura está indecisa
num instante, num prazer, numa função
que instinto é isso?
como cão de praia ou polvo de recife fazendo coisas
que não entendemos e
talvez nem ele mesmo entenda,
está indeciso, pondera opções fora do manual
quando o instinto lhe pede fazer sem pensar
o que pode fazer sem pensar
hesitar
reverter
inquirir —
actos de a natureza estar em pausa,
qualquer criatura afasta-se da sua espécie,
além, ao lado, ao fundo;
afinal, tu observas-me porque queres
averiguar a mensagem,
ainda não é claro o que venho dizer-te,
ou estás já a fruir sem saber que sim,
prazer que não se requer perceber ou decifrar
porque é já incidente satisfação
com que o corpo nutrifica
de fantasia o nervo íntimo,
o teu corpo vendo os fluxos deste meu,
imitando secretamente por dentro
porque só assim se compreende, imitando,
e se por acidente compreende
então também frui
antes de dar por isso
ouve,
não pediste para nascer caranguejo
este, outro, macho ou fêmea, nervos ou órgãos
da metamorfose, sono crustáceo, nutrição, reprodução
não sei é coisa que aprovas ou desaprovas
porque estar vivo não é por si
recusar ou anuir;
mas se posso vir aqui dizer
o que te apazigue
repara nisto:
espécie nossa tem vantagens,
é a sua parte do privilégio que se espalha
abundante pelo universo conforme as peculiaridades:
tal como os pássaros que
andam e voam,
ou ouriços que vivem tanto em cima
como abaixo do solo,
tu e temos à mão,
como poucas outras espécies,
dois elementos a nosso inteiro proveito
— terra e mar —
como poucos os peixes que polvilhando o oceano
saem dele de tempos a tempos
para ter noção de que há restante universo;
tartarugas, pinguins, iguanas
anfíbios que se fazem rastejantes na atmosfera
quando são mestres das fundas águas
como nem sonham o animais de quatro patas
sabes,
o mundo pensa que como patas
nós mergulhamos a profundeza de tempos a tempos
conforme o ar nos dá para isso;
poucos sabem que somos peixes,
— peixes —
guelras de peixe que se aventuram pelo solo
em prodígio anatómico que trazemos connosco
de simples água que ensopamos nas costelas,
segredos da biologia que nos fazem
mais alados que as maiores barbatanas
do oceanos que o percorrem de uma pontà à outra
mas não mais do que isso
verdade, cada espécie traz em si o segredo
que a torna rara; corpo que tens é raro
em espécies que te invejariam
se o soubessem:
todo ele degusta paladar do chão e vento
onde quer que toca, onde quer que toca —
fluxo e água rocha e planta
mundo inteiro que delicias
com todos os poros da tua pele
enquanto outros, gaivotas, golfinhos, lagartos
ursos, moreias, elefantes
só conseguem saborear no extremo da cara
usando focinho, nariz ou língua
e aspetos mais há; artrópode que és,
não estás só,
de abelha, límulo, lagosta, trilobite
possuis articulações milhentas
na fachada da tua boca
mandíbulas, falanges, antenas
maxilípedes primeiros segundos terceiros
estalidos, lâminas, protuberâncias de quitina
gradação complexa do manusear
que adiciona degraus à complexidade
do que analisas, investigas, pormenorizas
detalhando o que te fascina
mais do que só o simples
ingerir ou
vomitar
como quem sobrevive só de engolir
poesia é haver complexidade
extenso vocabulário para analisar
o que não é simples,
nunca é,
conforme o grau da variação
a que se abre o sujeito;
outras espécies,
mesmo as mais longe de nós em forma ou habitat
são providas, por exemplo,
de muitos dedos, finos, ágeis, angulares
em terminações de pata ou braço
(a que chamam "mão")
filigranas que, se em escala
igual à nossa,
tão leve entrelaçariam nossos maxilípedes
em laços semelhantes da minúcia
e do carinho
se nada disto te pacifica,
se sonhas neste mundo vasto
coisas outras que não és
e então tens pena,
observa:
só podes sonhá-las sendo tu,
que sendo elas sonharias outra coisa
nada a ver com o então e muito menos com agora;
natural é invejarmos o que é vedado
aos nossos membros e sentidos;
mas anatomia,
qualquer que ela seja,
é por definição uma parte imensa,
é o que te permite ver do todo as coisas
que não podes ser ou alcançar,
de modo que as sabes e invejas porque as notas,
alcanças, detectas, perto ou longe
dá-se-te conhecê-las, saberes que existem
ainda que não ao teu acesso:
é o corpo a mostrar-te mais assunto do que ele próprio,
eis a mais hábil honestidade que se permite
a qualquer objeto limitado
no tempo e espaço
raio, órbita, eixo, rasto,
linha, ponto, plano, oval
hipérbole, radial, triângulo, trapézio:
todas vastas fisionomias
são iguais em todos os lados do universo
meus olhos redondos, esferas, círculos ovalados
perfeitos como roda ou bolha
polimento em si centrado como estrelas e os planetas,
meus brilhando à tua frente como coisa mínima,
oleada
aguada,
salgada
magma e plasma, nutriente de seu conteúdo,
minha crosta rija, minha guelra estria
igual a ramos, espinhas, dentes que
no reino marsupial são osso ou cartilagem
e se eu enumerar os demais efeitos
da engenharia
arcos, dobras, charneiras, mecanismos
textura, ondas, frestas, penas, escamas, gemas
preto, branco, madrepérola, anil, rubi
farei catálogo igual poema
solicitando sem pedir emprestado
materiais que em todo o lado
abundam e dão plasticina
segundo os químicos e minérios da paisagem
repara,
toda a forma, por mais que diversa
é semelhante, peculiar e em si contida,
toda achando-se mapa de infindos pormenores
singulares de forma, molde e superfície —
toda a criatura usando natural instinto
para fugir à solidão ou ao desconcerto,
toda amando no seu dentro o que secreto se inicia,
toda articulando o que do vizinhante lhes é sentido,
toda achando, conhecendo, detectando
o que por brisa química radar ou cheiro
lhes vem de longe introduzir
inovação à sua presença
eu, por exemplo,
vim aqui ter contigo;
aqui no ponto desta praia onde não tens razão
para sentir que estás sozinha;
não tens sequer visão mais curta ou privilegiada
do resto do cosmos:
ele não tem centro e toda a parte é amostra,
cenário que por meios de variação exemplifica
o que a ele próprio pasma e intriga
como neste instante
que o universo observa e talvez
já tenha visto muitas vezes
o que nos é novo, porque nos só agora aqui vivido;
ouve:
chateio-te? aborreço-te?
achas ridícula esta conversa,
este jeito de minha presença
mero ritual
de acasalamento?
algo que certamente desprezas
como quem não apetece
e não admira
o que vês nas outras espécies:
focas que se competem aleijando-se,
andorinhas exibindo melhor malabarismo,
tucanos procurando o melhor canto,
cada um treinando a sua amostra
— e mostrar é sempre caricato e curioso —
benefício que podem dar
a quem tenha uso disso;
os humanos
por exemplo
disputam-se exibindo os seus pertences
e talvez seja que de tempo a tempo os seus pertences
mudem muito e a cada mudança
chamem era ou século
nisso nós caranguejos
somos sempre os mesmos, nossa arte inova pouco
é sempre igual o que nos é urgente salientar,
e quando fazíamos diferente
era talvez noutro tempo, quando a espécie de caranguejo
era outra coisa, não tanto carangueja nisso
em forma, espécie, filo ou classe
mas era próxima, decerto,
prima, símia, similar,
porque enquanto a areia for assim,
e a praia assim, e assim o modo como as rochas
perdem forma quando a água lhes traz fluxos
do outro lado do hemisfério
e a salinidade das ondas tal
e o picante tal que nos faz sentir
as multidões nas correntezas do oceano,
o aval da relevância será assim
deste modo,
nisso não há ser antigo
ou estar à frente
se técnica é as coisas darem mesmo efeito
quando se utilizam formas mesmas
seja qual o ponto da eternidade
toda a receita é válida,
todo material oportuno e eterno,
como as estrelas, nebulosas e cefeidas
continuando a manusear os prazos cósmicos de seus fogões
como pós e areias que aqui no espaço de uma praia
verificam leis perenes, velhas, simples
sem achar cansaço ou monotonia
sei,
nenhuma destas leis do universo
as pediste tu para ti, outras mais úteis imaginando,
não o pediste nem o quiseste mas é assim,
nem o teu próprio corpo solicitaste
numa formulação que não fosse a tua,
assim te é dada por decisões
que sem teu acordo determinaram porque já cá estavam,
embora a ti deleguem culpa, lucro e direção
porque tudo o que em ti descobres
ou de ti procede
está anexo ao teu corpo como quem a ti se funde
porque a ti obedece
e a ninguém mais do que a ti acrescenta efeito
junção cruel, essa, seres livre
no uso e na fruição de um corpo teu
que te foi dado sem decisão de teu interior,
como quem não pode decidir o que ser
senão descobrindo ao longo do tempo
como quem só poderia perguntar e esperar resposta
porque não sabia;
mas nisso
tens um prémio que tanto oprime como fortifica,
vê,
que a beleza do vasto mundo é ele ser útil aos confins
de tua carne mais do que tu mesma
saberias,
ele só se achando hábil quando já decidindo
muitas coisas antes de ti,
muito mais às que poderias ter pensado,
em detalhes que nem soletras nem imaginas
mas te soletram como se de ti tivessem tido
amizade prévia à nascença,
necessidades, anseios, ditongos, fundos, veios
que em ti sentes sem ter de dar um nome
ou estudar ou descrever,
muito mais do que tu mesma conhecerás
e muito mais do que gostarias de admitir
em parte eu sinto e as prevejo,
não por ser deus ou supra-mundo, que não sou isso,
mas tão-só por ser parceiro
à categoria:
foi-me dado, como co-espécime, ter sensações iguais
vizinhas, gémeas, pares às tuas
sinto instinto igual ao teu,
dom de não ter de adivinhar por filosofia ou metafísica
o que a ti é intuído
a mim não tens de tentar explicar
não precisas elaborar ou defender aquilo que queres
com que direito ou porquê,
teres quem te comprima as costas sem explicar o benefício,
que te protejam lombo ou braço sem careceres esquema
de persuadir ou convencer a quem não o tem;
membros meus compreendem teus
antes de te envolverem,
medos teus iguais aos meus,
mesma intensidade, mesmo elemento,
mesma régua, mesmo nível
nem tão maiores nem mais pequenos
um-para-um como o que fazes de ti para ti
sem ver nisso demasiado vasto em compreensão
ou demasiado pequeno em importância —
o que fazes eu faço igual causa-efeito,
igual direito a ser assunto no universo,
dor, coragem, raiva, amor, acesso,
igual pergunta igual resposta
valor, gramagem, igual escala de incidente
que em sua frequência compactua
só por isso,
e até mesmo antes de eu poder pensar
se de anatómico sou bom ou mau exemplo,
pensa nisto:
todas estas formas que eu tenho —
estas patas, órbitas, dorsos, cascas,
pleópodes, antenas, musculaturas
olhos, dorsos, tendões, tenazes —
fazem já o que te é fortuito
só por serem como são, geometria útil à tua escala
sem precisar de fazer teoria ou abaixo-assinado,
então elas são belas:
são solução que encontras no já de observar,
massa saída de um desejo que era molde
e não sabia, mas se fez: é o resultado,
veio mais cedo, já cá está, é o que faltaria
à fantasia dos teus anseios,
é a hipótese que por convite de suas linhas e volumes
cumprirá o que promete sem sequer ter de prometê-lo,
não tem como não, se o que faz por natureza
é o que por natureza faria
mas ah...
pensas-te indiferente, superior a isto?
talvez te vejas coisa rígida, armadurada,
perita na inimizade contra o resto oceano,
que de ninguém precisas porque só a ti bastas
pinça forte, guelra densa, carapaça dura —
mas e o lombo?
e as partes moles, mais do visco e da mistura
ventre fino estaladiço que te é frágil
que requer cuidado, espessura extra, externa
que se empresta ao material, daí conceito de carinho...
e o toque?
digo, o toque suave, mais ténue que da queda ou do confronto,
juntando-se às partes frágeis tuas
sem as querer amarrotar
quando elas não conseguem tão bem manter-se
só elas mesmas por força própria;
quem melhor para fazer isso que outra armadura
que sinta o mesmo, mesminho?
eu caranguejo
mais do que molusco, moreia, albatroz ou barracuda
sei finas debruações com que escovas óvulos
— não que tenha de ser para isso, para reprodução —
mas se sendo,
é boa surpresa que já sabias,
mesmo que eu agora não mostre essa parte minha
que só se mostra nuns momentos para dizer
nem tudo em minha anatomia é uso
de toda a gente
e quem por ti poderá cortar ou arrancar
perna ou arco ou membro ao próprio corpo
se assim for preciso para facilitar
no pânico ou no perigo?
igual a polvo ou estrela separando o que lhes é anexo
por motivos seus, iguais talvez aos nossos,
se nisso são primos
eu como eles
como tu
rejuvenesço de ciclo a ciclo os componentes
conforme na nossa vida
se fecham ou abrem fases
seguindo agendas da ecdise,
mas se for para não rejuvenescer, não faz mal
até nisso eu sacrifico,
se não crês em tão imediata promessa então eu digo:
eu pondero, e se assim pensando e assim sentindo
eu sacrifico, eu tiro, arranco, corto,
eu protejo
eu aninho
faço cálculo de prós e contras como quem
não tem recurso para tudo na vida e então escolhe,
do que lhe é interno ou seu redor, o que mais compensa;
não queres e eu não quero fazer-te fraca ao dizer
"protejo",
mas caranguejo, como toda criatura, tem partes frágeis,
tu e eu,
a seu tempo, tu no teu, terás os prazos de tua casca
e a tormenta que isso dá e vulnerabiliza
quando o resto do mundo nem sonha ou lembra que existias
quando no introspecto do processo precisaste
abrigar-te
não é para dizer "és menos" que aqui sugiro
que anexo de um outro pode ser mais,
o conceito de companhia sendo o resto que falta ao corpo
e que, por isso, pode mais
juntando outro a uma vontade, iniciativa cerebral
que em vários corpos se multiplica
tu comigo ponderando esquemas vários de estar ligado —
perto, longe, encostado, em ângulo,
extremos da sentinela, rastos do improviso
extensões do alcance no espaço e tempo
palmilhando panorâmica mais complexa que o individual,
devaneios mais alternados que um só abanar de mente,
duplicando em volume e faculdade o prodígio
de obter ou descobrir o que pelo oceano
nos alarga a perspectiva
ouve-me, tudo isto eu sei, eu penso, eu sinto,
é a mensagem vim mostrar-te
não por ter tenaz amarela esta ou outra:
ela é senão o que de mim possuo sem ter escolhido
mas sabendo usos que isso dá
a mim ou a externos,
se posso, se quero (e poderia não querer)
oferecer-to, isto que tenho —
e não tem de vir de mim,
não é por ser eu!
não é por ser eu,
mas tu ainda estás aqui,
e desde o nascimento que andas
e deslizas e mergulhas nas variações da vida
perguntando porquê isto, porquê aquilo
sensações perguntas que carregas
de um lado para o outro como baú autónomo
de ambições etéreas procurando a oportunidade,
eu sou material que aqui passou
numa praia de arenitos ao sol poente
como quem está ao uso,
se para tal for convidado porque está a jeito
num momento onde já não falta o tempo nem cenário
nem a brisa nem a luz nem a temperatura
eu talvez já imaginando felicidade
que se tem perto mas não na mão
falta distância de bocadinho
não sei se queres, se procuras
se sou benvindo
se vem cedo ou tarde a desejos teus
que eu não conheço nem denuncio
nem te exijo, nada exijo
nem pergunto nem inquiro
para saber razões de ti;
o que era para dar eu dei
expus-me aqui gratuito
como quem quer retorno porque o sonha
mas proibindo-se de exigi-lo;
e eu não te venero nem odeio
sou transeunte não ligado a ti
que apenas faz destino ao lado
em areais da eternidade
fazendo razia lateral contigo
carnal contigo
temporal contigo
facto que já é do teu destino por
volume cor textura que aqui viste neste teu momento
sombra e brilho tarde néon movimento gota sol
barulho reflexo sombra crosta emaranhado
de sal, rugoso, ondulado crespo fresco
casca estria leve movimento transparente ou amarelo
assuntos que são prémios acoplados
em decorativos do universo
quando as coisas que nele agem
são agente e são cenário;
o mais que eu pudesse dar
eu daria por pedido ou incidente
dos acasos da meteorologia boreal
mas mais não pode, só acedendo,
indicando querer mais perto
no momento oportuno,
por exemplo este, eu estando aqui
e não tens, não tens de querer
podes não querer
mas se achares que sim,
se quiseres,
se assentires...
info
Não que algo aqui tenha de fazer sentido. Por vezes o pensamento arrisca-se, com sentido ou sem ele. Desculpa que me arrisque; vínculos da mente é um lugar de notas sobre lógica, obsessão, patologia e normalidade. Não os escrevo como terapeuta ou paciente, porque nada nestes apontamentos é científico nem deve ser visto como tal. Mas ouve: patologia e desespero são sinónimos, se cada sério dilema implica uma investigação sobre o universo; e eu tenho dilemas e quero colocá-los aqui, sem querer fazer holofote ou manifesto. O que isto puder, seja apenas literário: nem verdadeiro nem falso, com nenhuma (ou talvez alguma) relação com a realidade.